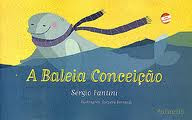Recebi teu livro (Silas) faz algum tempo, mais de seis meses. Lembro que o li quase que imediatamente. Se eu fosse o sujeito organizado que gosto de fingir que sou, deveria ter feito algum comentário na primeira oportunidade, logo depois de ter recebido o livro. O problema é que costumo deixar tudo para depois – que é uma forma confortável de ser irresponsável. Além disso, Sérgio, não posso negar que o fantasma de Macunaíma gosta de passar longas e intermináveis temporadas aqui em casa. O tempo escorre, a inércia faz aniversário e eu continuo lendo um livro atrás do outro, sem me incomodar com aqueles que ficaram para trás.
Semana passada, ao revirar as estantes, tirar o pó de alguns livros, separar outros para um artigo que sonho escrever daqui a alguns dias, percebi que estava em débito contigo. Como reparar tamanha falha? Não sei. Aliás, também não sabia onde estava o teu livro. Nas estantes não o encontrei. Um amigo costuma dizer que os livros adoram se esconder e que, quando os estamos procurando, são eles que nos encontram − nunca o contrário. Fui procurar lá no quarto. Costumo, de forma idiossincrática, separar aqueles que merecem atenção dos que ainda não foram lidos. Essa foi a chance de mudar um pouco a história, de resolver o mistério. Não posso tê−lo perdido, repeti baixinho, várias vezes, como se essa frase fosse um mantra, como se fosse escudo suficiente para afastar os maus espíritos.
Salvo pelo gongo. Encontrei o volume. A capa, coloridíssima, que me lembra, por algum motivo, Roy Lichtenstein, o pintor pop estadunidense, é um belo cartão de visitas. Aliás, queria dizer (escrever?) uma bobagem. Mais uma. Posso? Lá vou eu: teu livro tem potencial para ser adaptado para o formato graphic novel. O engraçado, Sérgio, é que as expressões romance gráfico, história em quadrinho e gibi estão fora de moda.
Arrisco outro palpite: a modernidade odeia a língua portuguesa. Em qualquer situação possível, todos, pois é, todos os militantes culturais preferem usar alguma palavra da língua inglesa. Triste sina a dos escrivinhadores nacionais: condenados ao século passado – tempo em que a língua nacional era outra, muito diferente dessa que está sendo usada pela comunidade descolada. A norma culta e o coloquial foram substituídos por alguma forma de comunicação que eu ainda não sei o que é – e que, obviamente, não domino. Todos os dias percebo que fiquei anacrônico. E isso não é a melhor parte do que me cabe nesse latifúndio.
Arrisco outro palpite: a modernidade odeia a língua portuguesa. Em qualquer situação possível, todos, pois é, todos os militantes culturais preferem usar alguma palavra da língua inglesa. Triste sina a dos escrivinhadores nacionais: condenados ao século passado – tempo em que a língua nacional era outra, muito diferente dessa que está sendo usada pela comunidade descolada. A norma culta e o coloquial foram substituídos por alguma forma de comunicação que eu ainda não sei o que é – e que, obviamente, não domino. Todos os dias percebo que fiquei anacrônico. E isso não é a melhor parte do que me cabe nesse latifúndio.
Tergiversei. Mais uma vez. Essa é outra qualidade que podes encontrar no meu cultivar.
Sérgio, de vez em sempre faço esforço colossal para tentar omitir o que deveria ser claro e pedagógico. Neste caso, o do teu livro, fiz uma viagem ao redor do nada antes de conseguir dizer que seria interessante ver imagem e texto conjugados em unidade, a carne e o espírito, se me perdoa a metáfora cristã, igualmente fora de moda. Algumas cenas estão delineadas com um tipo de linguagem que imagino, mesmo sem ter certeza, própria para amalgamar palavra e desenho.
Sérgio, de vez em sempre faço esforço colossal para tentar omitir o que deveria ser claro e pedagógico. Neste caso, o do teu livro, fiz uma viagem ao redor do nada antes de conseguir dizer que seria interessante ver imagem e texto conjugados em unidade, a carne e o espírito, se me perdoa a metáfora cristã, igualmente fora de moda. Algumas cenas estão delineadas com um tipo de linguagem que imagino, mesmo sem ter certeza, própria para amalgamar palavra e desenho.
Estou errado? Posso estar. A crítica cultural, graças aos deuses que a protegem (ou a amaldiçoam), está repleta de equívocos. Alguns grosseiros. Outros, alegres desatinos. Coisas do destino. Passeios emocionais, como esse transitar de Silas pelas ruas das cidades, pelos bares, consumindo pedaços de carne, sentindo as dores tatuadas na pele.
Como cabe ao imaginário composto no fin−de−siècle, a solidão e o mau−humor de Mário, o dono de um dos botecos de Diz Xis, projetam o futuro. A vida costuma cobrar caro pelas fugas. Pelas decisões. Poucos conseguem perceber os sinais que o destino vai espalhando ao redor. E isso é engraçado. Ou farsesco. O que for de agrado do freguês.
Como cabe ao imaginário composto no fin−de−siècle, a solidão e o mau−humor de Mário, o dono de um dos botecos de Diz Xis, projetam o futuro. A vida costuma cobrar caro pelas fugas. Pelas decisões. Poucos conseguem perceber os sinais que o destino vai espalhando ao redor. E isso é engraçado. Ou farsesco. O que for de agrado do freguês.
Historicamente, desde os tempos coloniais, quando o barroco plantou as sementes das narrativas esparramadas, o penduricalho se tornou uma característica importante da literatura brasileira. Atualmente, não falta quem use da desculpa de que esse recurso é necessário para atingir a totalidade. Bobagem. Contar uma história não precisa de trezentas páginas descritivas. Graciliano Ramos e Ernest Hemingway continuam atualíssimos – só não vê quem não quer ver. Teu texto (linguagem enxuta, exata, que não deixa espaço para os adjetivos) provavelmente bebeu nessas fontes magistrais. Ganhou o leitor.
Simultaneamente, como compete a um artesão da palavra, você não tem pressa. As palavras escorrem pelas páginas produzindo imagens de grande densidade poética – mesmo quando apontam para o páthos (paixão, sofrimento, doença). Em cena, encenando algum tipo de ópera bufa, aqueles personagens que podemos qualificar como gente fina (traficantes, prostitutas, bêbados, a escória do lado menos edulcorado do mundo). Nenhum problema. Nós (eu, você, o leitor) somos eles.
Nos dois últimos contos, Silas, 30 do 2° Tempo e Silas, Velho, o que vale é o ritmo. Alternando diálogos cortantes com um pouco de humor difícil de ser decifrado, as narrativas fluem com segurança, sem medo de cortar o pulso diante do público, sem esperar aplauso. Poucos conseguem essa concisão, essa precisão.
Por fim, ou enfim, queria pedir desculpas por ter demorado tanto tempo para escrever alguma coisa sobre teu livro.
Abraços,