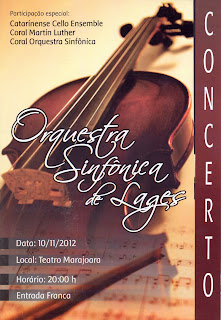Em princípio, uma iniciativa louvável. Se considerarmos que, de acordo com o Instituto Pró−Livro, a média de leitura dos brasileiros está em ridículos quatro livros por ano, qualquer projeto que incentive a leitura representa um passo na direção de uma melhor condição intelectual.
A adesão, por parte dos prisioneiros, é voluntária e promete, a cada livro lido, a remição de quatro dias no tempo de cárcere. Em contrapartida, o preso deve demonstrar que entendeu o texto que lhe foi entregue. Ou seja, trinta dias depois, para obter as vantagens da reinserção social, deverá apresentar uma resenha − que será corrigida por uma banca.
Um dos responsáveis pelo projeto, discípulo confesso de Olavo de Carvalho (que considera o maior pensador brasileiro vivo e em atividade, segundo o Diário Catarinense), defende que O projeto (...) visa a reeducação dos apenados pela leitura de obras que apresentam experiências humanas sobre a responsabilidade pessoal, a percepção da imortalidade da alma, a superação das situações difíceis pela busca de um sentido na vida, os valores morais e religiosos tradicionais e a redenção pelo arrependimento sincero e pela melhoria progressiva da personalidade, o que a educação pela leitura dos clássicos fomenta.
Eu (embora ninguém tenha me perguntado) considero Jose Arthur Giannotti, Antonio Candido de Mello e Souza, Marilena Chaui, Olgária Chain Féres Matos, Luiz Costa Lima, Sérgio Paulo Rouanet, Maria Rita Kehl, Roberto Schwarz, Michel Löwy e o Renato Janine Ribeiro (não nessa ordem) os maiores pensadores vivos e em atividade no Brasil. Devo estar na contramão.
Influenciado por esse arcabouço teórico, ao ler sobre o discurso humanitário que escora o projeto, tive algumas dúvidas sobre os resultados possíveis do empreendimento. Provavelmente nada que mereça alguma atenção.
O primeiro módulo do projeto de Joaçaba consiste em um exemplar de Crime e Castigo, romance de Fiódor Mikháilovitch Dostoiévski, escrito em 1866. Acompanha um dicionário de bolso.
Por que escolher um texto tão pesado, tão moralista, como Crime e Castigo, para iniciar esse, digamos, mergulho nos clássicos mundiais?
A resposta talvez esteja no discurso que foi feito diante dos moradores temporários da enxovia (ainda segundo o Diário Catarinense): não vou subestimar a capacidades de vocês, não vou sugerir que leiam best−sellers, autoajuda, subliteratura ou outras inutilidades. Ao contrário! Todo ser humano, por mais difícil que seja sua situação ou por mais precária que tenha sido sua educação, tem condições de ler grandes obras com proveito. E é isso que torna essas obras eternas: o quanto elas falam da experiência concreta, da alma humana.
Impressionante defesa de um conjunto de ideias que, provavelmente, fariam sucesso na Idade Média. O princípio da autoridade (que delira com a possibilidade de distinguir entre o que é bom e o que é ruim, que sonha ter sido ungido pela obrigação ética de salvar do descaminho os menos favorecidos) costuma impor a bondade em situações onde a correlação de forças não é equivalente. Que insensato morador da Casa dos Mortos fará alguma objeção diante de guardas armados?
Como a analise literária não se assemelha a um exercício matemático, dois mais dois são quatro, fiquei imaginando qual será a atitude dos responsáveis pelo projeto diante do desafio intelectual. Será que recomendarão um acréscimo no tempo de reclusão para quem responder que Rodion Romanovitch Raskolnikov, Rodka para a família (assim como aquele menino do filme Ken Park [Dir. Larry Clark, 2002], antes de ter matado os avós), gozou no momento em que assassinou Alíona Ivanova, a velha usurária? Será esse argumento uma comprovação de que O Idiota não é um personagem ficcional? Será que desconsiderarão a tese de que a segunda morte, Lisavieta, ocorreu por legítima defesa? E se o, digamos, "hóspede do Estado" escrever na sua redação, resenha, comentário, que o juiz de instrução, Porfiri Pietrovitch, não passa de um falso moralista, obcecado com uma ficção que construiu mentalmente? O que acontecerá?
No inicio do filme Match Point (Dir. Woody Allen, 2005), Chris Wilton, o personagem interpretado por Jonathan Rhys Meyers, está lendo Crime e Castigo. Enquanto escuta ópera, prepara o golpe do baú. Como os desvios da razão são mais atraentes do que a realidade prática, Chris se envolve - paralelamente - em uma história passional inadequada. Ao descobrir que a amante está grávida, imagina que não lhe resta outra alternativa senão o assassinato. Cabe à sorte decidir, assim como uma bola que esbarra na rede do jogo de tênis, (e pode cair de qualquer lado), se sofrerá punição criminal ou a lenta tortura advinda da culpa.
Independente da capacidade intelectual dos encarcerados em Joaçaba, o que precisa ser dito é que poucos conseguirão entender o dilema que acomete Raskolnikov - e Chris Wilton (se for permitido aos residentes do calabouço ver o filme de Woody Allen). A verdade é que nem mesmo nos melhores cursos de pós−graduação do Brasil isso se concretiza. Para uns falta percepção para atingir determinados estágios intelectuais. Para outros, falta educação, saúde, condições de trabalho. O Brasil é um país injusto e continuará assim porque algumas pessoas mais instruídas, talvez com saudades do muro perverso que institui a Casa Grande & Senzala, não abrem mão de tutelar a vida alheia. Esse mesmo muro divide a vida social em mocinhos e bandidos, doutores e ignorantes.
Apesar do avanço das seitas evangélicas nos ergástulos brasileiros, poucas coisas são tão patéticas quanto a ingenuidade religiosa que resulta do acreditar que a culpa é o principal caminho para a expiação dos pecados.
Espero estar errado, mas o projeto Reeducação do Imaginário provavelmente não obterá índices significativos. Ao iniciar com um livro difícil, denso, que exige explicitamente a submissão social do participante, o projeto está acenando, simultaneamente, para o discurso excludente e preconceituoso. Aceitar a culpa de Raskolnikov implica em aceitar que a Justiça (seja o que isso for) sempre alcança os infratores da ordem. Nesse tipo de iniciativa não há lugar para qualquer discussão sobre o certo e o errado. Somente as respostas esperadas são as adequadas, somente a moralidade cristã do arrependimento e da culpa está correta.
Em alguns momentos acontecerá um curto-circuito, algo não planejado. Algumas respostas nos questionários pré-estabelecidos pelas certezas destoarão. Então será a hora de surgirem, de onde estão escondidos agora, aqueles que - como se fossem profetas do apocalipse - dirão que os bandidos tiveram uma chance e não aproveitaram.
Os carrascos, independente do tempo e da situação, sempre pregam a superioridade moral.
Se os autores do projeto de leitura tivessem lido O Prazer do Texto (Roland Barthes) ou Uma História da Leitura (Alberto Manguel), provavelmente deixariam de lado o discurso da elevação intelectual (não vou sugerir que leiam best−sellers, autoajuda, subliteratura ou outras inutilidades. Ao contrário!) e se preocupariam com a alfabetização literária, com a fruição gozosa do texto, com a alegria que emana das palavras escritas nas páginas dos livros.
Ler deve ser sinônimo de prazer, jamais de condenação ao degredo físico e cultural.