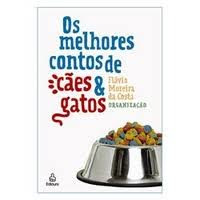Durante muito tempo imaginei como projeto literário uma antologia de contos e poemas sobre gatos. Queria que fosse um livro bacana, daqueles repletos de fotos de escritores e seus felinos. A integração entre texto e imagem.
A idéia, que parecia ótima no primeiro instante, foi, aos poucos, sendo deixada de lado. Depois de meses de leituras, pesquisas e entusiasmo, as dificuldades tomaram conta do projeto. A fantasia inicial era de reunir textos que ainda não caíram no domínio público – e que não são muito conhecidos. Por exemplo, Os gatos (John Updike), Gato perdido (Mary Gaitskill), A maior presa de Ming (Patricia Highsmith) ou Orientação dos gatos (Julio Cortázar). Isso sem falar de alguns trecho de Desesperados, o excelente romance de Paula Fox, ou do maravilhoso Eu Sou um Gato, do japonês Natsume Soseki. No Brasil, o tema foi contemplado com alguns contos brilhantes. Gato gato gato (Otto Lara Resende) e Emanuel (Lygia Fagundes Telles) são inquestionáveis. Qualquer seleção não pode ignorar Heloisa Seixas, que publicou um livro inteiro (Sete vidas) sobre o tema.
No campo da poesia, a fauna é mais variada, são tantos que daria para publicar facilmente dois volumes (aos curiosos, duas dicas: www.catquotes.com/catpoetry.htm e www.moggies.com.uk/catpoems.html#twocatspoem).
A ilusão desapareceu ao iniciar a discussão sobre tradução e direitos autorais. São barreiras intransponíveis. E se isso fosse contornado (o que é quase impossível), ainda existem outras quinhentas dificuldades. Qualquer publicação é resultado de uma guerra. Resultado: projeto adiado.
Uma variação dessa idéia seria reunir alguns amigos e produzir material novo. A possibilidade de ter que dizer para alguém que o texto enviado não era adequado ou que não tinha boa qualidade impediu progressão. Melhor esquecer.
Sobrou a pior das alternativas: trabalhar com o material que não demanda discussões emocionais ou econômicas. Essa proposta também naufragou. A publicação de Os melhores contos de cães e gatos, organizada por Flávio Moreira da Costa (Ediouro, 2007), que reuniu (na maior parte) textos de domínio público, tornou o projeto de outra antologia obsoleto − outra vez.
Enquanto o livro sonhado não se concretiza, só resta reler os textos que me agradam e esperar por dias melhores.
quinta-feira, 30 de junho de 2011
quarta-feira, 29 de junho de 2011
LIBERDADE: UM ROMANCE DE JONATHAN FRANZEN
Na página 154 da edição brasileira do romance Liberdade, de Jonathan Franzen, há um erro de revisão: comessasse. O interessante é que a história da recepção desse romance no Brasil também começou com um erro. Muitos leitores compraram o romance em função do maciço marketing editorial. Mais um caso típico de literatura sendo confundida com item de mercantilização. Jornais, revistas e blogs publicaram quilos de resenhas destacando o autor, que foi capa da revista Time, em agosto de 2010. A manchete, Great American Novelist, forneceu a credibilidade que agradou a todos – inclusive a estratégia insana de recuperação do dinheiro empregado na publicação do texto. Em lugar de comentar o livro em si, foi o autor que recebeu os elogios. O ápice desses desatinos está na falta de constrangimento da editora, que imprimiu um selo na capa do livro, destacando que o jornal The Guardian considerou Liberdade como o livro do ano e do século. Nada contra um jornal inglês elogiar um romance estadunidense, mas é esse tipo de vaticínio insano que torna visível o exagero.
Quem leu o romance, 605 páginas na edição brasileira, concorda que Liberdade não é aquilo tudo o que a propaganda alardeia. A sombra do livro anterior, As Correções, que é um prodígio narrativo, contribuiu para diminuir o fogo de palha. Colocados um diante do outro, o livro mais recente perde a graça, parece apenas empenho pálido de um escritor esforçado. Seguindo a estratégia de defender interesses obscuros, poucos integrantes da crítica bastarda que parasita os meios de comunicação, digo, os meios de comercio da cultura literária, mencionam essa linha de análise: um dos princípios da ideologia do descartável determina que o novo deve engolir, com voracidade, a qualidade.
Ao abordar vários temas atuais (governo Bush, guerra do Iraque, ecologia), Liberdade consegue agregar alguns elementos que não são usuais na literatura contemporânea. Além disso, como se fosse um episódio sem importância, a personagem Patty Berglund, lá pelo meio da narrativa, enquanto não está trepando com o melhor amigo de seu marido, lê Guerra e Paz. Os "bem−intencionados", saudosos de um tempo em que a vida social era mimetizada pela arte (e, por extensão, pela literatura), ligaram o ponto "a" com o ponto "b" e formularam uma tese sebastianista: Franzen é uma espécie de Tolstoi contemporâneo, capaz de reinventar a narrativa, trazendo para perto do leitor médio os grandes épicos de nossa época. Ledo e risível engano. A arte de contar (e vender) uma boa história não depende desse tipo de exercício tortuoso de imaginação (que, vá lá, talvez seja o adequado para a divulgação dos crimes perpetuados por aquele leporídeo chamado Paulo).
Liberdade possui qualidades. Aqui e ali há bons trechos, Franzen escreve bem, domina com estilo a técnica narrativa. O problema é que o enredo de Liberdade está cheio de buracos. Em princípio, há cinco protagonistas: Walter, Patty, Joey, Jessica e Richard. Depois de algumas páginas, Jessica, a filha do casal Berglund, desaparece da narrativa. E, quando reaparece, sempre o faz de maneira episódica, fugaz, como se não fosse capaz de contribuir para a evolução da narrativa. Depois de vender sucata para o exército, Joey tem uma crise moralista: para quem quer ficar rico rapidamente, como é a intenção do personagem, esse foi um ato de grandeza pouco convincente. A escolha de Walter pelo "mal menor" (salvar uma reserva florestal e um passarinho em troca de permitir minas de carvão a céu aberto) caracteriza uma ingenuidade política que não deveria existir mais. Trechos do romance estão escorados em depoimentos escritos por Patty, numa voz narrativa que pouco, ou nada, difere da voz do narrador em terceira pessoa que ordena o enredo. O uso recorrente de elipses, o que acelera a narrativa, mas omite detalhes que poderiam amalgamar a estrutura narrativa, contribui para a superficialidade se estabeleça − diversos fatos (11 de setembro, guerra do Iraque, crise imobiliária) são narrados sem profundidade, com uma rapidez estonteante, como se não fossem importantes, apenas elementos do cenário.
O único personagem que não compromete a si mesmo é Richard Katz. Do início até o fim: encrenqueiro, antissocial, rebelde sem causa, canalha, que sempre sentiu (e nunca escondeu) tesão pela mulher do melhor amigo. Enfim, um estereótipo do estadunidense detestado pelo mundo todo.
E como se não bastassem todas essas maluquices (possíveis em romances não−realistas), o final da narrativa é inverossímil, emulação edulcorada dos contos de fadas, a reconciliação com a moral e os bons costumes. Seria patético caso não houvesse uma boa dose de humor a diluir esse dramalhão, a mostrar que a tragédia é apenas o outro lado da comédia.
P.S: Para não dizer que não falei no excelente trabalho de revisão, o "gato" escapou no seguinte trecho: "a parte do letreiro luminoso que dizia NÃO TEMOS acesa ao lago de VAGAS" (p.483).
Quem leu o romance, 605 páginas na edição brasileira, concorda que Liberdade não é aquilo tudo o que a propaganda alardeia. A sombra do livro anterior, As Correções, que é um prodígio narrativo, contribuiu para diminuir o fogo de palha. Colocados um diante do outro, o livro mais recente perde a graça, parece apenas empenho pálido de um escritor esforçado. Seguindo a estratégia de defender interesses obscuros, poucos integrantes da crítica bastarda que parasita os meios de comunicação, digo, os meios de comercio da cultura literária, mencionam essa linha de análise: um dos princípios da ideologia do descartável determina que o novo deve engolir, com voracidade, a qualidade.
Ao abordar vários temas atuais (governo Bush, guerra do Iraque, ecologia), Liberdade consegue agregar alguns elementos que não são usuais na literatura contemporânea. Além disso, como se fosse um episódio sem importância, a personagem Patty Berglund, lá pelo meio da narrativa, enquanto não está trepando com o melhor amigo de seu marido, lê Guerra e Paz. Os "bem−intencionados", saudosos de um tempo em que a vida social era mimetizada pela arte (e, por extensão, pela literatura), ligaram o ponto "a" com o ponto "b" e formularam uma tese sebastianista: Franzen é uma espécie de Tolstoi contemporâneo, capaz de reinventar a narrativa, trazendo para perto do leitor médio os grandes épicos de nossa época. Ledo e risível engano. A arte de contar (e vender) uma boa história não depende desse tipo de exercício tortuoso de imaginação (que, vá lá, talvez seja o adequado para a divulgação dos crimes perpetuados por aquele leporídeo chamado Paulo).
Liberdade possui qualidades. Aqui e ali há bons trechos, Franzen escreve bem, domina com estilo a técnica narrativa. O problema é que o enredo de Liberdade está cheio de buracos. Em princípio, há cinco protagonistas: Walter, Patty, Joey, Jessica e Richard. Depois de algumas páginas, Jessica, a filha do casal Berglund, desaparece da narrativa. E, quando reaparece, sempre o faz de maneira episódica, fugaz, como se não fosse capaz de contribuir para a evolução da narrativa. Depois de vender sucata para o exército, Joey tem uma crise moralista: para quem quer ficar rico rapidamente, como é a intenção do personagem, esse foi um ato de grandeza pouco convincente. A escolha de Walter pelo "mal menor" (salvar uma reserva florestal e um passarinho em troca de permitir minas de carvão a céu aberto) caracteriza uma ingenuidade política que não deveria existir mais. Trechos do romance estão escorados em depoimentos escritos por Patty, numa voz narrativa que pouco, ou nada, difere da voz do narrador em terceira pessoa que ordena o enredo. O uso recorrente de elipses, o que acelera a narrativa, mas omite detalhes que poderiam amalgamar a estrutura narrativa, contribui para a superficialidade se estabeleça − diversos fatos (11 de setembro, guerra do Iraque, crise imobiliária) são narrados sem profundidade, com uma rapidez estonteante, como se não fossem importantes, apenas elementos do cenário.
O único personagem que não compromete a si mesmo é Richard Katz. Do início até o fim: encrenqueiro, antissocial, rebelde sem causa, canalha, que sempre sentiu (e nunca escondeu) tesão pela mulher do melhor amigo. Enfim, um estereótipo do estadunidense detestado pelo mundo todo.
E como se não bastassem todas essas maluquices (possíveis em romances não−realistas), o final da narrativa é inverossímil, emulação edulcorada dos contos de fadas, a reconciliação com a moral e os bons costumes. Seria patético caso não houvesse uma boa dose de humor a diluir esse dramalhão, a mostrar que a tragédia é apenas o outro lado da comédia.
P.S: Para não dizer que não falei no excelente trabalho de revisão, o "gato" escapou no seguinte trecho: "a parte do letreiro luminoso que dizia NÃO TEMOS acesa ao lago de VAGAS" (p.483).
terça-feira, 28 de junho de 2011
HELDER MACEDO
Helder Macedo esteve em Florianópolis, no dia 07 de outubro de 2010. Naquela manhã, chovia à cântaros na "ilha dos casos e ocasos raros". O uso da expressão "chovia à cântaros", um pouco antiga, apesar de pertinente, não deve ser relacionada, obviamente, com os 75 anos do ilustre autor escritor português. As características que o definem são outras: a voz forte, quase de locutor esportivo, o corpo excessivamente magro, as mãos inquietas (instrumentos usados para construir pontes entre o imaginário e a lucidez), o humor afiado, corrosivo, oscilando entre a contenção britânica e o escracho colonial. Além disso, como que a dizer que está a léguas de distância da linguagem asséptica das Universidades, possui um bom arsenal de palavrões. E, para surpresa dos espectadores da palestra que proferiu naquela ocasião, usou alguns deles em alto e bom tom.
Em uma sala completamente lotada, falando um português que, embora inteligível (na maior parte do tempo), não parecia ser aquele que é falado por aqueles que o estavam escutando, destruiu alguns mitos sobre a vida e a obra de Luiz Vaz de Camões. Misturando observações refinadas e "histórias da vida privada", não economizou sarcasmo e ironia sobre os hábitos comportamentais do poeta – e seus contemporâneos. Amparado em quatro cartas atribuídas ao Camões, em lugar de manter a tradição do elogio poético (que costuma perdoar a todos os pecados daqueles com quem há identificação ou idolatria), Macedo fez questão de demonstrar, entre tantas coisas, que o autor de "Os Lusíadas" era cliente assíduo dos bordéis lisboetas.
Para quem teve o prazer de ler algum dos romances de Helder Macedo, esse tipo de observação, que desconstrói a mitologia literária, não é novidade. Trabalhando com as margens do campo literário, sem esquecer que a política está impregnada em cada ato humano (ou ficcional), o autor de Vícios e virtudes sempre se mostrou um rude iconoclasta. Em razão desse desapego à hagiografia, ouvi−lo discorrer sobre os defeitos (ou qualidades, depende do ponto de vista) de um grande escritor é uma aventura fantástica, dessas que estão pontuadas por surpresas, por pequenos prazeres e pelo inusitado.
Na sociedade do espetáculo, infelizmente essa estratégia gera as piores expectativas: em alguns momentos aqueles que estavam participando do evento não puderam evitar se contorcer nas cadeiras, como se estivessem impacientes para escutar mais uma leva de fofocas sobre as intimidades literárias. E que não vieram, não era esse o propósito, não era essa a tarefa a que Helder Macedo havia se proposto. Literatura é outra coisa, reino de outro mundo.
No período da tarde, a programação do Colóquio Helder Macedo permitiu ao publico (que diminuiu exponencialmente) compartilhar a visão de três especialistas na obra do ilustre escritor português. Sentado no meio da platéia, ele teve paciência e controle para suportar a saraivada de elogios, algumas vezes de cabeça baixa, outras vezes mexendo em uma pasta, a maior parte do tempo parecendo querer estar longe, apesar de isso ser impossível. Então, em lugar de dormir (o que seria perdoável e nada estranho), ele erguia os olhos, olhava para o palestrante da vez, esboçava um sorriso e se distraia outra vez fazendo anotações, imaginando a vida a escorrer fora daquelas quatro paredes que o aprisionavam.
Quando solicitaram que voltasse a ocupar um lugar na mesa, com polidez e tato agradeceu a sessão de exegese e contou algumas pequenas histórias pessoais. Nesse momento, apenas por um instante, o humor foi substituído pela melancolia. Mostrando que ainda estava a cultivar luto pela morte de vários amigos, observou que os últimos três anos lhe foram muito difíceis. Sem manifestar clemência com a morte, não deixou passar em branco a oportunidade de criticar aqueles que se foram: Isso não se faz com aqueles a quem queiramos bem. Em outras palavras, foi falta de cavalheirismo dos mortos partirem, sem esperá−lo. Ato contínuo, como que a colocar tampa no caldeirão dos ressentimentos, leu alguns poemas, forma sofisticada de declarar publicamente a saudade e a perda emocional.
Talvez seja isso, a solidão, que o fez vir ao Brasil mais uma vez. Difícil arriscar um prognóstico, inclusive porque parte da festa estava atrelada ao lançamento de um novo velho romance, Natália, publicado em Portugal em 2009 – alegando problemas gráficos, o livro ausentou−se do evento.
Quem deu o ar da graça, ao final da tarde, foi o sol. Depois do aguaceiro, o céu se abriu. E fez um calor abafado, daqueles que lembram África. Ou Partes de África – romance em que Macedo conduz o enredo em banho−maria, muita digressão, muitas frases que querem dizer o contrário do que a soma de palavras parece sugerir, a coerência mantida pela corda que une os vários fragmentos, muitas histórias que se dispersariam se não houvesse algo para controlá−las. Enfim, a velha lição de mitologia grega, o fio da meada nas mãos de Ariadne.
Para completar a brincadeira, como se fosse um jogador de pôquer, desses que somente sentem a adrenalina do jogo quando blefam, Helder Macedo apostou alto no mecanismo de sedução do narrador intrometido, em primeira pessoa, livremente inspirado em Machado de Assis (que, por sua vez, copiou Lawrence Sterne). Como "original é quem copia primeiro" e os direitos autorais caíram em domínio publico, a história que o narrador nos conta (misturada com a do personagem Luis Garcia de Medeiros e as crueldades da Pide - antes de 25 de abril de 1974) traça um painel bastante crível do colonialismo português em sua forma mais horrorosa. Mas, esse andamento narrativo está em nível muito distante das neuroses de António Lobo Antunes, em que o monologo interior substitui a ação, inclusive porque a literatura praticada por Helder Macedo é de outro naipe e distante do imobilismo.
Talvez a melhor recomendação para quem queira conhecer Helder Macedo mais de perto seja ler Pedro e Paula, romance que dialoga com Esaú e Jacó (Machado de Assis outra vez!), e que reforça a idéia (como diz um personagem do filme Le premier jour du reste de ta vie. Dir. Remi Bezançon, 2008) de que a família é uma máquina de moer sentimentos.
Pedro e Paula festeja os livros complicados, desses que manejam tramas desencontradas. Em muitas passagens percebe−se o flerte com o a−pós−o−modernismo: entre tantas sacadas e sacanagens, Sam, o pianista do Ricky’s Bar, se desloca de Casablanca e, diante de platéia cativa, toca A Portuguesa – se fosse As time goes by seria a mesma coisa. O tempo e o espaço (Lourenço Marques, Lisboa, Paris, Londres) são fluídos.
Pedro e Paula são irmãos gêmeos e, passada a adolescência, encontramos ambos os dous morando na capital portuguesa, pretextando estudar - embora Pedro prefira outras distrações. Noves fora zero, ao correr da narrativa o leitor vai sendo informado sobre como não administrar as diferenças afetivas. Quem conta esse drama é outro narrador intrometido – que, em determinado momento, não consegue se segurar na função elementar de ordenar o andamento narrativo e invade o texto para se transformar em personagem.
Pedro ama Paula e Paula não ama Pedro. Aliás, Paula ama muita gente, vários são os seus companheiros na troca de humores e gozos. Pedro não é um deles, a idéia de se deitar com o irmão lhe causa asco, prefere homens mais velhos, menos apressados. Em tom de fado, daqueles bem tristes, o ressentimento e o desejo incestuoso culminam em estupro. E ódio. E ruptura fraterna. Tudo isso sem descrições apelativas, sem precisar imprimir a ignomínia em out−door.
Enfim, se fosse necessário definir a prosa de Helder Macedo em uma única palavra, "elegante" seria uma tentativa razoável, pois "o velho" pratica um estilo que está fora de moda, o andamento musical em lugar do excesso, a ironia substituindo o discurso moralista, a história portuguesa em tom farsesco, quase operístico. Na última frase da última página de cada um dos seus romances, o leitor comprova que talento combinando lágrimas e risos resulta na embriagues que a ficção, somente a ficção, é capaz de fornecer.
Ao iniciar da noite, mastigando salgadinhos frios, provavelmente cansado por todo aquele exagero, Helder Macedo sorriu, distribuiu autógrafos, foi ator. E, não é difícil imaginar isso, deve ter suspirado de alivio quando tudo acabou.
De minha parte, voltei para casa, com dois presentes: um forte aperto de mãos e uma pilha de livros autografados.
Em uma sala completamente lotada, falando um português que, embora inteligível (na maior parte do tempo), não parecia ser aquele que é falado por aqueles que o estavam escutando, destruiu alguns mitos sobre a vida e a obra de Luiz Vaz de Camões. Misturando observações refinadas e "histórias da vida privada", não economizou sarcasmo e ironia sobre os hábitos comportamentais do poeta – e seus contemporâneos. Amparado em quatro cartas atribuídas ao Camões, em lugar de manter a tradição do elogio poético (que costuma perdoar a todos os pecados daqueles com quem há identificação ou idolatria), Macedo fez questão de demonstrar, entre tantas coisas, que o autor de "Os Lusíadas" era cliente assíduo dos bordéis lisboetas.
Para quem teve o prazer de ler algum dos romances de Helder Macedo, esse tipo de observação, que desconstrói a mitologia literária, não é novidade. Trabalhando com as margens do campo literário, sem esquecer que a política está impregnada em cada ato humano (ou ficcional), o autor de Vícios e virtudes sempre se mostrou um rude iconoclasta. Em razão desse desapego à hagiografia, ouvi−lo discorrer sobre os defeitos (ou qualidades, depende do ponto de vista) de um grande escritor é uma aventura fantástica, dessas que estão pontuadas por surpresas, por pequenos prazeres e pelo inusitado.
Na sociedade do espetáculo, infelizmente essa estratégia gera as piores expectativas: em alguns momentos aqueles que estavam participando do evento não puderam evitar se contorcer nas cadeiras, como se estivessem impacientes para escutar mais uma leva de fofocas sobre as intimidades literárias. E que não vieram, não era esse o propósito, não era essa a tarefa a que Helder Macedo havia se proposto. Literatura é outra coisa, reino de outro mundo.
No período da tarde, a programação do Colóquio Helder Macedo permitiu ao publico (que diminuiu exponencialmente) compartilhar a visão de três especialistas na obra do ilustre escritor português. Sentado no meio da platéia, ele teve paciência e controle para suportar a saraivada de elogios, algumas vezes de cabeça baixa, outras vezes mexendo em uma pasta, a maior parte do tempo parecendo querer estar longe, apesar de isso ser impossível. Então, em lugar de dormir (o que seria perdoável e nada estranho), ele erguia os olhos, olhava para o palestrante da vez, esboçava um sorriso e se distraia outra vez fazendo anotações, imaginando a vida a escorrer fora daquelas quatro paredes que o aprisionavam.
Quando solicitaram que voltasse a ocupar um lugar na mesa, com polidez e tato agradeceu a sessão de exegese e contou algumas pequenas histórias pessoais. Nesse momento, apenas por um instante, o humor foi substituído pela melancolia. Mostrando que ainda estava a cultivar luto pela morte de vários amigos, observou que os últimos três anos lhe foram muito difíceis. Sem manifestar clemência com a morte, não deixou passar em branco a oportunidade de criticar aqueles que se foram: Isso não se faz com aqueles a quem queiramos bem. Em outras palavras, foi falta de cavalheirismo dos mortos partirem, sem esperá−lo. Ato contínuo, como que a colocar tampa no caldeirão dos ressentimentos, leu alguns poemas, forma sofisticada de declarar publicamente a saudade e a perda emocional.
Talvez seja isso, a solidão, que o fez vir ao Brasil mais uma vez. Difícil arriscar um prognóstico, inclusive porque parte da festa estava atrelada ao lançamento de um novo velho romance, Natália, publicado em Portugal em 2009 – alegando problemas gráficos, o livro ausentou−se do evento.
Quem deu o ar da graça, ao final da tarde, foi o sol. Depois do aguaceiro, o céu se abriu. E fez um calor abafado, daqueles que lembram África. Ou Partes de África – romance em que Macedo conduz o enredo em banho−maria, muita digressão, muitas frases que querem dizer o contrário do que a soma de palavras parece sugerir, a coerência mantida pela corda que une os vários fragmentos, muitas histórias que se dispersariam se não houvesse algo para controlá−las. Enfim, a velha lição de mitologia grega, o fio da meada nas mãos de Ariadne.
Para completar a brincadeira, como se fosse um jogador de pôquer, desses que somente sentem a adrenalina do jogo quando blefam, Helder Macedo apostou alto no mecanismo de sedução do narrador intrometido, em primeira pessoa, livremente inspirado em Machado de Assis (que, por sua vez, copiou Lawrence Sterne). Como "original é quem copia primeiro" e os direitos autorais caíram em domínio publico, a história que o narrador nos conta (misturada com a do personagem Luis Garcia de Medeiros e as crueldades da Pide - antes de 25 de abril de 1974) traça um painel bastante crível do colonialismo português em sua forma mais horrorosa. Mas, esse andamento narrativo está em nível muito distante das neuroses de António Lobo Antunes, em que o monologo interior substitui a ação, inclusive porque a literatura praticada por Helder Macedo é de outro naipe e distante do imobilismo.
Talvez a melhor recomendação para quem queira conhecer Helder Macedo mais de perto seja ler Pedro e Paula, romance que dialoga com Esaú e Jacó (Machado de Assis outra vez!), e que reforça a idéia (como diz um personagem do filme Le premier jour du reste de ta vie. Dir. Remi Bezançon, 2008) de que a família é uma máquina de moer sentimentos.
Pedro e Paula festeja os livros complicados, desses que manejam tramas desencontradas. Em muitas passagens percebe−se o flerte com o a−pós−o−modernismo: entre tantas sacadas e sacanagens, Sam, o pianista do Ricky’s Bar, se desloca de Casablanca e, diante de platéia cativa, toca A Portuguesa – se fosse As time goes by seria a mesma coisa. O tempo e o espaço (Lourenço Marques, Lisboa, Paris, Londres) são fluídos.
Pedro e Paula são irmãos gêmeos e, passada a adolescência, encontramos ambos os dous morando na capital portuguesa, pretextando estudar - embora Pedro prefira outras distrações. Noves fora zero, ao correr da narrativa o leitor vai sendo informado sobre como não administrar as diferenças afetivas. Quem conta esse drama é outro narrador intrometido – que, em determinado momento, não consegue se segurar na função elementar de ordenar o andamento narrativo e invade o texto para se transformar em personagem.
Pedro ama Paula e Paula não ama Pedro. Aliás, Paula ama muita gente, vários são os seus companheiros na troca de humores e gozos. Pedro não é um deles, a idéia de se deitar com o irmão lhe causa asco, prefere homens mais velhos, menos apressados. Em tom de fado, daqueles bem tristes, o ressentimento e o desejo incestuoso culminam em estupro. E ódio. E ruptura fraterna. Tudo isso sem descrições apelativas, sem precisar imprimir a ignomínia em out−door.
Enfim, se fosse necessário definir a prosa de Helder Macedo em uma única palavra, "elegante" seria uma tentativa razoável, pois "o velho" pratica um estilo que está fora de moda, o andamento musical em lugar do excesso, a ironia substituindo o discurso moralista, a história portuguesa em tom farsesco, quase operístico. Na última frase da última página de cada um dos seus romances, o leitor comprova que talento combinando lágrimas e risos resulta na embriagues que a ficção, somente a ficção, é capaz de fornecer.
Ao iniciar da noite, mastigando salgadinhos frios, provavelmente cansado por todo aquele exagero, Helder Macedo sorriu, distribuiu autógrafos, foi ator. E, não é difícil imaginar isso, deve ter suspirado de alivio quando tudo acabou.
De minha parte, voltei para casa, com dois presentes: um forte aperto de mãos e uma pilha de livros autografados.
segunda-feira, 27 de junho de 2011
LIVROS ADAPTADOS PARA O CINEMA
Para alguém que vive cercado por livros, algumas adaptações literárias para o cinema são insuportáveis. Basta lembrar, entre centenas de milhares de exemplos patéticos, os crimes praticados contra, por exemplo, Amor nos tempos do cólera (Gabriel Garcia Marques), Pantaleão e as visitadoras (Mario Vargas Llosa), Desonra (J. M. Coetzee) e Reparação (Ian McEwan), romances belíssimos e que resultaram em filmes medíocres.
Apesar do descrédito do cinema adaptado da literatura, uma reação tende a ser considerada como normal. Qualquer comentário contrário ao "esforço artístico" implica em ouvir o eterno chavão, "a linguagem é outra", como se isso, a transposição da literatura para o cinema, fosse uma espécie de desculpa para a destruição do bom senso e do talento. Não o é. Ou não deveria ser. Há outras questões em jogo, muitas outras, inclusive a competência do(s) roteirista(s) e do diretor. Mas, como sempre acontece em questões que não sabem sobreviver às relações complexas (principalmente aquelas que misturam amor e ódio, política e vida social, finanças e arte), convém ignorar as áreas de conflito. É o que a sensatez aconselha. É o que (quase) todos fazem.
No outro lado da corda, há alguns casos muito interessantes. Há livros que parecem destinados à cesta do lixo, mas que resultam em filmes razoáveis (apesar de insistirem em cenas pateticamente emocionais). Quem assistiu, por exemplo, Querido John (Dear John, Dir. Lasse Hallström, 2010), baseado no romance de Nicholas Sparks, sabe que o filme bateu recordes de audiência nos Estados Unidos, inclusive ultrapassando produções mais caras e artisticamente mais articuladas. No entender de vários críticos, o filme é melhor do que o livro – ironicamente, causou um efeito típico do capitalismo: contribuiu para a venda de mais alguns milhões de exemplares dos livros escritos por Sparks.
Outro exemplo, lançado recentemente em DVD, é As coisas impossíveis do amor (Love and other impossible pursuits. Dir. Don Ross, 2009). Parte do (pequeno) sucesso desse filme está escorada na estratégia comercial que envolve os dramas. Como cabe aos representantes daquele cinema que deve ser assistido com a(o) namorada(o), óculos escuros e várias caixas de lenços de papel, sempre há o risco do(a) espectador(a) vacilar nas cenas mais comoventes − centenas de lágrimas escorrendo pelo rosto.
Apostando na abordagem sem muitas sutilezas narrativas, o filme se concentra em um momento delicado da vida de Emily Greenleaf, uma mulher amarga e insuportavelmente ressentida. Sem se preocupar com os sentimentos daqueles que a cercam, a personagem esconde as debilidades afetivas atrás das ofensas que vai distribuindo entre aqueles que a cercam (meus dentes são muito afiados, diz quase ao final do filme). Sem saber distinguir amigos e inimigos, vai construindo a própria solidão. Isolada, não aceita a culpa, e amplia a distância com aqueles que (em sua opinião) são incapazes de entender a dor que a corrói. Enfim, é uma chata. A solução óbvia é o psiquiatra. Felizmente, não é o que ocorre nesse filme – mais uma qualidade a destacar, pois se isso acontecesse era caso de desligar o DVD e procurar por algo mais interessante para fazer.
O filme foi baseado no romance Love and other impossible persuits, de Ayelet Waldman, que (não tenho certeza) ainda não foi traduzido no Brasil. Reunindo linguagem condescendente, religiosidade encoberta (falam de Deus o tempo todo) e fragilidade humana, o livro possuí (a julgar pelo filme) todos os ingredientes dos livros que usualmente integram o catálogo do "Clube do Livro" (ou bobagem similar). Além disso, a história é uma soma de obviedades, basta lembrar que o sobrenome Greenleaf (folhas verdes) sinaliza para uma vida nova, o velho tema da ressurreição cristã (ou budista, como lembra outro personagem em cena igualmente clichê, a do menino brincando no lago do Central Park, com um barco de controle remoto). Quem leu Henry James, para continuar o desfile de lugares−comuns, sabe que, em literatura, o nome dos personagens nunca é elemento gratuito, o que leva o leitor/espectador ao final antecipado do livro e do filme, em apenas uma informação ridícula.
Apesar disso tudo, a interpretação de Natalie Portman (como Emily) é artigo de primeira classe. O que ajuda a concluir que o filme é muito melhor do que o livro!
Entre os incontáveis casos de adaptações para o cinema − e que, de uma forma ou de outra, se destacam nessa multidão de produtos comerciais expostos nas prateleiras dos supermercados de ilusões − Amor e outras drogas (Love & others drugs, Dir. Edward Zwick, 2011), a quase divertida adaptação do romance Hard sell: the evolution of a Viagra salesman, de Jamie Reidy, resultou em um filme que não é muito ruim.
Em tom de comédia romântica, dessas que são ótimas para se ver em um sábado à tarde, deitado no sofá, balde de pipocas ao alcance da mão, o filme mistura as bobagens que norteiam o universo amoroso com algumas questões moralistas. Nos dois casos não há progressos efetivos, mas se escora na proposta de que o que vale é o artificialismo construído para narrar essas situações.
Ao abordar o microscópico universo (e, portanto, invisível aos olhos do público) dos produtos farmacêuticos e de uma doença cruel (mal de Parkinson), Amor e outras drogas não ignora o eco de outra adaptação literária, o romance de Christopher Taylor Buckley Obrigado por fumar, que resultou em divertido e cínico filme homônimo (Thank you for smoking. Dir. Jason Reitman, 2006) sobre a indústria do tabaco. Além disso, é uma das melhores performances de Aaron Eckhart.
Não se poderia exigir o mesmo desempenho de Jake Gyllenhall e Anne Hathaway, pois esses dois atores não alcançam certas sutilezas de interpretação. Além disso, o enredo do filme também não ajuda. Da metade em diante, a diversão vai sendo corroída pela melancolia, pela autodestruição e pela dor.
O final do filme, confirmando o que se espera desse tipo de cinema, aposta em uma versão moderna dos contos de fadas (porque é isso o que o/a espectador/a deseja ao alugar um filme com a palavra "amor" no título): o casal fica junto, mas a doença ameaça a felicidade dos dois, o que só os aproxima mais.
De qualquer maneira, há algo de bom em assistir filmes como Dear John, As coisas impossíveis do amor e Amor e outras drogas – a certeza de que alguns bons livros nunca possibilitarão filmes comerciais, a segurança intelectual de não ser necessário ler certos livros, e a doce ilusão de que a literatura, em alguns momentos, é superior ao cinema.
Apesar do descrédito do cinema adaptado da literatura, uma reação tende a ser considerada como normal. Qualquer comentário contrário ao "esforço artístico" implica em ouvir o eterno chavão, "a linguagem é outra", como se isso, a transposição da literatura para o cinema, fosse uma espécie de desculpa para a destruição do bom senso e do talento. Não o é. Ou não deveria ser. Há outras questões em jogo, muitas outras, inclusive a competência do(s) roteirista(s) e do diretor. Mas, como sempre acontece em questões que não sabem sobreviver às relações complexas (principalmente aquelas que misturam amor e ódio, política e vida social, finanças e arte), convém ignorar as áreas de conflito. É o que a sensatez aconselha. É o que (quase) todos fazem.
No outro lado da corda, há alguns casos muito interessantes. Há livros que parecem destinados à cesta do lixo, mas que resultam em filmes razoáveis (apesar de insistirem em cenas pateticamente emocionais). Quem assistiu, por exemplo, Querido John (Dear John, Dir. Lasse Hallström, 2010), baseado no romance de Nicholas Sparks, sabe que o filme bateu recordes de audiência nos Estados Unidos, inclusive ultrapassando produções mais caras e artisticamente mais articuladas. No entender de vários críticos, o filme é melhor do que o livro – ironicamente, causou um efeito típico do capitalismo: contribuiu para a venda de mais alguns milhões de exemplares dos livros escritos por Sparks.
Outro exemplo, lançado recentemente em DVD, é As coisas impossíveis do amor (Love and other impossible pursuits. Dir. Don Ross, 2009). Parte do (pequeno) sucesso desse filme está escorada na estratégia comercial que envolve os dramas. Como cabe aos representantes daquele cinema que deve ser assistido com a(o) namorada(o), óculos escuros e várias caixas de lenços de papel, sempre há o risco do(a) espectador(a) vacilar nas cenas mais comoventes − centenas de lágrimas escorrendo pelo rosto.
Apostando na abordagem sem muitas sutilezas narrativas, o filme se concentra em um momento delicado da vida de Emily Greenleaf, uma mulher amarga e insuportavelmente ressentida. Sem se preocupar com os sentimentos daqueles que a cercam, a personagem esconde as debilidades afetivas atrás das ofensas que vai distribuindo entre aqueles que a cercam (meus dentes são muito afiados, diz quase ao final do filme). Sem saber distinguir amigos e inimigos, vai construindo a própria solidão. Isolada, não aceita a culpa, e amplia a distância com aqueles que (em sua opinião) são incapazes de entender a dor que a corrói. Enfim, é uma chata. A solução óbvia é o psiquiatra. Felizmente, não é o que ocorre nesse filme – mais uma qualidade a destacar, pois se isso acontecesse era caso de desligar o DVD e procurar por algo mais interessante para fazer.
O filme foi baseado no romance Love and other impossible persuits, de Ayelet Waldman, que (não tenho certeza) ainda não foi traduzido no Brasil. Reunindo linguagem condescendente, religiosidade encoberta (falam de Deus o tempo todo) e fragilidade humana, o livro possuí (a julgar pelo filme) todos os ingredientes dos livros que usualmente integram o catálogo do "Clube do Livro" (ou bobagem similar). Além disso, a história é uma soma de obviedades, basta lembrar que o sobrenome Greenleaf (folhas verdes) sinaliza para uma vida nova, o velho tema da ressurreição cristã (ou budista, como lembra outro personagem em cena igualmente clichê, a do menino brincando no lago do Central Park, com um barco de controle remoto). Quem leu Henry James, para continuar o desfile de lugares−comuns, sabe que, em literatura, o nome dos personagens nunca é elemento gratuito, o que leva o leitor/espectador ao final antecipado do livro e do filme, em apenas uma informação ridícula.
Apesar disso tudo, a interpretação de Natalie Portman (como Emily) é artigo de primeira classe. O que ajuda a concluir que o filme é muito melhor do que o livro!
Entre os incontáveis casos de adaptações para o cinema − e que, de uma forma ou de outra, se destacam nessa multidão de produtos comerciais expostos nas prateleiras dos supermercados de ilusões − Amor e outras drogas (Love & others drugs, Dir. Edward Zwick, 2011), a quase divertida adaptação do romance Hard sell: the evolution of a Viagra salesman, de Jamie Reidy, resultou em um filme que não é muito ruim.
Em tom de comédia romântica, dessas que são ótimas para se ver em um sábado à tarde, deitado no sofá, balde de pipocas ao alcance da mão, o filme mistura as bobagens que norteiam o universo amoroso com algumas questões moralistas. Nos dois casos não há progressos efetivos, mas se escora na proposta de que o que vale é o artificialismo construído para narrar essas situações.
Ao abordar o microscópico universo (e, portanto, invisível aos olhos do público) dos produtos farmacêuticos e de uma doença cruel (mal de Parkinson), Amor e outras drogas não ignora o eco de outra adaptação literária, o romance de Christopher Taylor Buckley Obrigado por fumar, que resultou em divertido e cínico filme homônimo (Thank you for smoking. Dir. Jason Reitman, 2006) sobre a indústria do tabaco. Além disso, é uma das melhores performances de Aaron Eckhart.
Não se poderia exigir o mesmo desempenho de Jake Gyllenhall e Anne Hathaway, pois esses dois atores não alcançam certas sutilezas de interpretação. Além disso, o enredo do filme também não ajuda. Da metade em diante, a diversão vai sendo corroída pela melancolia, pela autodestruição e pela dor.
O final do filme, confirmando o que se espera desse tipo de cinema, aposta em uma versão moderna dos contos de fadas (porque é isso o que o/a espectador/a deseja ao alugar um filme com a palavra "amor" no título): o casal fica junto, mas a doença ameaça a felicidade dos dois, o que só os aproxima mais.
De qualquer maneira, há algo de bom em assistir filmes como Dear John, As coisas impossíveis do amor e Amor e outras drogas – a certeza de que alguns bons livros nunca possibilitarão filmes comerciais, a segurança intelectual de não ser necessário ler certos livros, e a doce ilusão de que a literatura, em alguns momentos, é superior ao cinema.
sexta-feira, 24 de junho de 2011
CALCANHAR DE AQUILES
Conta a lenda grega que, ao nascer, Aquiles, um dos heróis da Guerra de Tróia, foi banhado nas águas mágicas do rio Estige. Sua mãe, Tétis, o segurou pelo calcanhar – a única parte do corpo do menino que não recebeu a proteção divina e que, por isso, se tornou o seu (dele) ponto fraco.
Modernamente, homem algum admite ter algum ponto fraco. Simples, homens são treinados para vencer. Basta ver o empenho de alguns brutamontes quando precisam trocar pneu ou botijão de gás. Isso para não falar daqueles "sempre importantes e necessários" elogios (em voz alta) à gostosa da página central da Playboy. A regra é simples: homem tem que se comportar como "Homem", assim mesmo, com "H" maiúsculo, senão... Passa a ser personagem de uma daquelas histórias sobre animais delicados que passeiam pelo bosque enquanto o lobo não vem. E o preconceito está longe de ser vencido.
A vida é cruel – e desconfortável. Principalmente para os homens. Em alguns momentos críticos – no meio da madrugada, naquela hora em que a insegurança se mistura com a ausência da pessoa amada e a dor de não saber pedir perdão, o mais convicto dos machões se converte em completo idiota. Sozinho e desesperado, diante do espelho das desilusões, poucos conseguem segurar as comportas do medo – é líquido e certo o desaguar de lágrimas, arrependimentos e saudades. Seria engraçado, se não fosse patético.
Os anestésicos complementam a cena. O principal é o álcool − consumido em baldes, muitos baldes, o suficiente para encher uma piscina, pois o objetivo principal é afogar as coisas ruins. Quando essa idéia fracassa, há os tranqüilizantes (principalmente aqueles comprimidos que os americanos, usando a síntese que caracteriza a língua inglesa, chamam de "pain killers"). Também existem as drogas ilícitas, centenas delas, uma pior do que a outra – que talvez seja a qualidade procurada pelos desesperados.
Como é muito difícil de resolver, ou de querer resolver, os problemas que causam imensos hematomas no ego, o sujeito, quando acorda desse sonho inquieto, descobre que a ressaca é o menor dos seus problemas. Ou seja, que tudo o que lhe causava dor ainda continua causando dor. E que o uso de substâncias que substituem a realidade não passa de tentativa de construir uma rota de fuga.
Enfim, assim com Aquiles terminou derrotado por uma flechada no seu calcanhar, muitos homens se mostram incapazes de entender que a vida é curta demais para ser gasta com pequenas tragédias particulares. E que se não houver alguma ruptura nesse proceder, quando a angústia bater na porta do coração inquieto, lembrando as coisas ruins, tudo se repetirá – outra vez.
Modernamente, homem algum admite ter algum ponto fraco. Simples, homens são treinados para vencer. Basta ver o empenho de alguns brutamontes quando precisam trocar pneu ou botijão de gás. Isso para não falar daqueles "sempre importantes e necessários" elogios (em voz alta) à gostosa da página central da Playboy. A regra é simples: homem tem que se comportar como "Homem", assim mesmo, com "H" maiúsculo, senão... Passa a ser personagem de uma daquelas histórias sobre animais delicados que passeiam pelo bosque enquanto o lobo não vem. E o preconceito está longe de ser vencido.
A vida é cruel – e desconfortável. Principalmente para os homens. Em alguns momentos críticos – no meio da madrugada, naquela hora em que a insegurança se mistura com a ausência da pessoa amada e a dor de não saber pedir perdão, o mais convicto dos machões se converte em completo idiota. Sozinho e desesperado, diante do espelho das desilusões, poucos conseguem segurar as comportas do medo – é líquido e certo o desaguar de lágrimas, arrependimentos e saudades. Seria engraçado, se não fosse patético.
Os anestésicos complementam a cena. O principal é o álcool − consumido em baldes, muitos baldes, o suficiente para encher uma piscina, pois o objetivo principal é afogar as coisas ruins. Quando essa idéia fracassa, há os tranqüilizantes (principalmente aqueles comprimidos que os americanos, usando a síntese que caracteriza a língua inglesa, chamam de "pain killers"). Também existem as drogas ilícitas, centenas delas, uma pior do que a outra – que talvez seja a qualidade procurada pelos desesperados.
Como é muito difícil de resolver, ou de querer resolver, os problemas que causam imensos hematomas no ego, o sujeito, quando acorda desse sonho inquieto, descobre que a ressaca é o menor dos seus problemas. Ou seja, que tudo o que lhe causava dor ainda continua causando dor. E que o uso de substâncias que substituem a realidade não passa de tentativa de construir uma rota de fuga.
Enfim, assim com Aquiles terminou derrotado por uma flechada no seu calcanhar, muitos homens se mostram incapazes de entender que a vida é curta demais para ser gasta com pequenas tragédias particulares. E que se não houver alguma ruptura nesse proceder, quando a angústia bater na porta do coração inquieto, lembrando as coisas ruins, tudo se repetirá – outra vez.
quarta-feira, 22 de junho de 2011
A FILA
O futuro de qualquer doente é proporcional ao tamanho da fila. Quando maior a fila, menor as chances de resolver algum problema. Por quê? Porque doente é doente e a fila é cruel.
No ambulatório do SUS, a primeira fila. Depois de enfrentar mil e uma provações para conseguir uma ficha de atendimento médico, depois de ter que esperar pelo médico (que chegou 30 minutos atrasado), depois do evidente esforço (dois minutos) do gabaritado profissional da área da saúde para entender o problema clinico, o doente saiu do consultório com uma requisição na mão. Exame radiológico, a popular "chapa", que deveria ser realizado no hospital.
Nova fila. O doente esperou dez minutos no balcão até ser atendido. O funcionário olhou para ele com visível desdém e perguntou:
− Retirou a senha?
Ele não tinha retirado a senha. O balcão estava vazio, imaginou que não precisava. Foi nesse momento que percebeu a extensão do erro. Atrás dele, como se tivessem surgido do nada, estavam umas quinze pessoas. E todas com a senha na mão. Foi para o fim da fila, retirou a senha e esperou. Esperou ser atendido, esperou que os funcionários terminassem a importante conversa que os impedia de atender aqueles que estavam no balcão. Demorou uma eternidade.
Quando foi atendido, a primeira pergunta não foi agradável:
− O senhor tem o cartão SUS?
Ele não tinha o cartão SUS.
E o problema é que o problema não era fácil de ser resolvido. Não naquele dia.
No dia seguinte, na Secretaria de Saúde, depois de retirar a senha, aguardou na fila até ser atendido. Explicou o problema e preencheu vários formulários. Tudo deveria ter sido resolvido facilmente, mas... Ele tinha deixado a carteira de identidade em casa. Na esquina, pegou um taxi, lamentando a sorte. Nessa brincadeira de ir e voltar perdeu mais de uma hora. Com o documento na mão refez todo o procedimento, recebeu o famigerado cartão, voltou ao hospital.
Retirou a senha, entrou na fila e esperou.
Na sua vez, nova pergunta:
− O senhor trouxe o comprovante de residência?
Ele tinha esquecido o documento em casa.
No ambulatório do SUS, a primeira fila. Depois de enfrentar mil e uma provações para conseguir uma ficha de atendimento médico, depois de ter que esperar pelo médico (que chegou 30 minutos atrasado), depois do evidente esforço (dois minutos) do gabaritado profissional da área da saúde para entender o problema clinico, o doente saiu do consultório com uma requisição na mão. Exame radiológico, a popular "chapa", que deveria ser realizado no hospital.
Nova fila. O doente esperou dez minutos no balcão até ser atendido. O funcionário olhou para ele com visível desdém e perguntou:
− Retirou a senha?
Ele não tinha retirado a senha. O balcão estava vazio, imaginou que não precisava. Foi nesse momento que percebeu a extensão do erro. Atrás dele, como se tivessem surgido do nada, estavam umas quinze pessoas. E todas com a senha na mão. Foi para o fim da fila, retirou a senha e esperou. Esperou ser atendido, esperou que os funcionários terminassem a importante conversa que os impedia de atender aqueles que estavam no balcão. Demorou uma eternidade.
Quando foi atendido, a primeira pergunta não foi agradável:
− O senhor tem o cartão SUS?
Ele não tinha o cartão SUS.
E o problema é que o problema não era fácil de ser resolvido. Não naquele dia.
No dia seguinte, na Secretaria de Saúde, depois de retirar a senha, aguardou na fila até ser atendido. Explicou o problema e preencheu vários formulários. Tudo deveria ter sido resolvido facilmente, mas... Ele tinha deixado a carteira de identidade em casa. Na esquina, pegou um taxi, lamentando a sorte. Nessa brincadeira de ir e voltar perdeu mais de uma hora. Com o documento na mão refez todo o procedimento, recebeu o famigerado cartão, voltou ao hospital.
Retirou a senha, entrou na fila e esperou.
Na sua vez, nova pergunta:
− O senhor trouxe o comprovante de residência?
Ele tinha esquecido o documento em casa.
terça-feira, 21 de junho de 2011
O TARADO
Foi um escândalo. Quase tão grande como daquela vez que Dona Adalgisa abriu a porta do elevador e encontrou a filha do dono do 305 namorando com o rapaz do 812. Quer dizer, namorar é outra coisa. O que Dona Adalgisa viu, com aqueles olhinhos de perdigueiro aposentado, foi um pouco mais do que isso, umas peças de roupa no chão e... Bem, foi um escândalo. Até a polícia apareceu no prédio, atentado violento ao pudor, essas coisas.
O episódio desta vez foi diferente. O síndico chegou a montar um complexo sistema de vigilância para impedir que aquilo continuasse acontecendo. Aquilo? Aquilo, o quê? Depois de séculos (duas semanas) de criteriosa investigação, dessas que colocam todos os seriados policiais no chinelo, concluiu−se que havia um maníaco sexual no prédio. Quer dizer, outro.
(Parênteses necessário, antes de continuar a narrativa: seria uma injustiça absurda omitir que o edifício abrigava diversos maníacos sexuais oficiais, desses reconhecidos publicamente e em cartório, dois ou três com registro no Ministério do Trabalho. Fecha parênteses.).
Pois é, um pervertido – segundo a abalizada opinião de Dona Clotilde, a incansável líder da Liga Oficial e Universal Contra a Obscenidade (LOUCO). E o que fazia esse tarado? Segundo as moradoras do prédio, tudo. E nesse "tudo" incluíam as mais inconfessáveis taras sexuais, embora o motivo da confusão fosse bem mais modesto: alguém estava roubando calcinhas.
Incontáveis peças intimas femininas estavam desaparecendo. E não apenas do varal coletivo, lá na lavanderia do prédio. A moradora do 208, alta, loura, um sorriso encantador e solteiríssima, reclamou o desaparecimento de diversas peças que estavam em uma gaveta, dentro do seu (dela) guarda−roupas – inclusive uma de estimação, vermelha, rendadinha.
O síndico, comovido com a denúncia, prometeu providências enérgicas. E disse que, se dependesse dele, o caso seria resolvido em um estalar de dedos. Mas, infelizmente, não dependia. Por isso mesmo, as delicadas peças do vestuário feminino continuavam desaparecendo.
A situação ficou ainda mais intrigante quando o zelador encontrou jogadas entre os degraus da escada duas das calcinhas supostamente desaparecidas.
Em tumultuada reunião de condomínio, Dona Clotilde, roxa de vergonha, reivindicou a propriedade de uma delas. A outra, um pouco menor, digo, bem menor, permaneceu exposta na mesa do salão de festas (onde se realizava a reunião) durante várias horas. Como ninguém a requereu, o síndico, que chegou com meia hora de atraso, propôs doá−la para uma das serventes. Não houve oposição.
Seguindo a regra básica de toda reunião que se preze, nada decidir, aquela também terminou em brancas nuvens. Todos foram embora mais confusos do que já estavam.
Em compensação, os moradores do 309, Abelardo e Luiza, enquanto estavam participando da reunião de condomínio, foram premiados: assalto. Ao voltarem para o apartamento, encontraram a porta aberta. Depois de gritos e indignações, nada restou senão chamar as "otoridades" constituídas – que demoraram umas duas horas para chegar, embora a distância entre o prédio e o distrito policial não fosse superior a uns 200 metros.
O saldo do prejuízo? Quase nenhum. A porta tinha sido arrombada, vários armários estavam escancarados, mas... Nada foi levado. O difícil de explicar era as centenas de calcinhas espalhadas pelo quarto do casal. Tinha para todos os gostos: grandes, pequenas, coloridas, tangas, com e sem renda, comestíveis...
A polícia não achou nenhuma graça na brincadeira. Em entrevista exclusiva para um desses programas de televisão que finge indignação com a tragédia humana, o delegado encarregado pelo caso declarou que aquela situação, que misturava atentado terrorista, ameaça comunista e iconoclastia constitucional, era a mais pura desobediência aos ideais patrióticos. "Ninguém mais tem respeito pelo Hino Nacional", finalizou.
Depois, com visível tédio, liquidou a investigação. Dez minutos foram suficientes para descobrir a solução do caso: prendeu o casal proprietário do apartamento que havia sido assaltado.
Em nova entrevista à televisão, revelou o método analítico que usou na solução de tão complicada charada: "A patologia da sexualidade, segunda nos ensina Sigmundinho, divide−se em latente e manifesta. Tivemos apenas que reduzir o caso às suas raízes pulsionais. Foi fácil."
Dentro do prédio, mais precisamente no apartamento 801, enquanto escolhia a calcinha que iria usar naquela noite, o síndico aplaudiu tamanha sabedoria.
segunda-feira, 20 de junho de 2011
BETÃO DA PENHA, CERVEJA E AMOR
Vestindo a bombacha suja, arregaçada na perna esquerda, tomando a sua cervejinha básica de toda hora, ali no balcão do bar Grenal, Betão da Penha viu Miosótis passar. Quer dizer, naquele momento, ele não sabia que a moça se chamava Miosótis, mas com aquele corpo, com aquele gingar de cadeiras, com aquele ar de delicadeza, só podia ter nome de flor.
Amor a primeira vista? Não sei. Como narrador pouco posso escrever sobre o que estava se passando na mente do personagem; o que está ao meu alcance é relatar as suas ações. E, nesse sentido, o que aconteceu foi que Betão deixou sobre o balcão uma nota de dez reais e, tastaviando, saiu à rua.
A mulher havia desaparecido na multidão. Quer dizer, pela rua caminhavam umas cinco ou seis pessoas, mas nenhuma delas era Miosótis. Como acontece nesse tipo de situação, a ausência instalou uma fenda no peito de nosso herói. Buraco que ele tentou preencher com um Amazonas de cervejas, quando voltou ao balcão do boteco. Só tentou. Um sentimento complicado impediu a inundação. Será possível sentir saudades de uma mulher que − até aquele momento − lhe era estranha?
Pela primeira vez na vida, Betão sentiu medo. Para aquele que anulava os finais de semana domando touro e cavalo, medo era uma palavra difícil de aceitar. E, por mais estranho que isso possa parecer, Betão estava com medo. Medo de se apaixonar.
Foi então que o seu olhar, até aquele instante vago e incerto, se encheu de alegria e esperança. Ele viu, na parede do bar, um cartaz da festa de São Bom Jesus de Iguape. Não sei se foi a cerveja, o destino ou pura sorte, mas Betão, naquele instante, teve a premonição de que Miosótis estaria lá, na festa. Recuperou a consciência e a lucidez. E tomou uma decisão. Iria à festa. Iria encontrar aquela "prendinha mimosa qui nem flor na encosta da serra, qui nem pelego em noite di inverno, qui nem...".
Para comemorar essa decisão, solicitou ao garçom uma garrafa de água mineral. Sem gás. O garçom ficou apavorado com o inusitado desse pedido.
Durante a semana, com o olhar de cachorro pidão, Betão aguardou. Aguardou pelo dia da festa. A espera corroeu a alma, atiçou a úlcera que cultivava com carinho e o tornou irritadiço. A isso devemos acrescentar outros horrores: parou de beber, roeu unhas, se alimentou mal, empalideceu. Como um personagem romântico, sofreu de amores.
No sábado, por cima da camisa de seda amarela, fez questão de usar um lenço colorado. E assim vestido, como um piá que vai para a primeira comunhão, "esticou as canelas" até a gruta de Bom Jesus de Iguape.
Mal chegou lá, encostou no primeiro balcão que viu e, "pra firmá o purso e diminuí o nervoso", pediu um liso de canha. Depois, tomou uma cerveja − para rebater.
E teria ficado ali, bebericando, durante uma eternidade se não tivesse encontrado um amigo de infância. Começaram a contar "causo dus antigamente", Betão se distraiu, e a conversa ficou "loca di especiar, qui nem dinhero achado".
Só depois de umas dez cervejas e duas porções de linguiça frita, o nosso herói foi em frente, disposto a conquistar o coraçãozinho de gazela de sua amada.
No quiosque do Gervásio, pediu um engradado de cerveja e disse, em alto e bom tom, para quem quisesse ouvir, que o amor precisa ser comemorado como uma dádiva divina. Em seguida, mandou distribuir "pra xiruzada macanuda" metade das "ampolas". A outra metade fez corredeira na garganta de Betão. Pelo entusiasmo, poder−se−ia dizer que o cara estava com tudo e não estava prosa.
Isso era apenas aparência. Tanto que Betão estava bebendo para afogar as mágoas. Em sua mente, a vida parecia letra de bolero. Só faltava ouvir as vozes de Lucho Gatica e Altemar Dutra: "El día que me quieras / la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su / mejor / color."
Pediu mais alguns quilos de cerveja, vários centímetros de cachaça e umas três coxinhas de galinha (uma gota de óleo escorreu pela camisa). Dez minutos depois, debruçado sobre a mesa de metal, babando ligeiramente, entrou em coma alcoólica.
Foi nesse instante que Miosótis, na companhia de amigos, sentou próxima da mesa onde o esqueleto de Betão da Penha roncava. Com voz mimosa, puro veludo, a garota pediu um guaraná diet. E, intimamente, lamentou não ter um namorado.
Amor a primeira vista? Não sei. Como narrador pouco posso escrever sobre o que estava se passando na mente do personagem; o que está ao meu alcance é relatar as suas ações. E, nesse sentido, o que aconteceu foi que Betão deixou sobre o balcão uma nota de dez reais e, tastaviando, saiu à rua.
A mulher havia desaparecido na multidão. Quer dizer, pela rua caminhavam umas cinco ou seis pessoas, mas nenhuma delas era Miosótis. Como acontece nesse tipo de situação, a ausência instalou uma fenda no peito de nosso herói. Buraco que ele tentou preencher com um Amazonas de cervejas, quando voltou ao balcão do boteco. Só tentou. Um sentimento complicado impediu a inundação. Será possível sentir saudades de uma mulher que − até aquele momento − lhe era estranha?
Pela primeira vez na vida, Betão sentiu medo. Para aquele que anulava os finais de semana domando touro e cavalo, medo era uma palavra difícil de aceitar. E, por mais estranho que isso possa parecer, Betão estava com medo. Medo de se apaixonar.
Foi então que o seu olhar, até aquele instante vago e incerto, se encheu de alegria e esperança. Ele viu, na parede do bar, um cartaz da festa de São Bom Jesus de Iguape. Não sei se foi a cerveja, o destino ou pura sorte, mas Betão, naquele instante, teve a premonição de que Miosótis estaria lá, na festa. Recuperou a consciência e a lucidez. E tomou uma decisão. Iria à festa. Iria encontrar aquela "prendinha mimosa qui nem flor na encosta da serra, qui nem pelego em noite di inverno, qui nem...".
Para comemorar essa decisão, solicitou ao garçom uma garrafa de água mineral. Sem gás. O garçom ficou apavorado com o inusitado desse pedido.
Durante a semana, com o olhar de cachorro pidão, Betão aguardou. Aguardou pelo dia da festa. A espera corroeu a alma, atiçou a úlcera que cultivava com carinho e o tornou irritadiço. A isso devemos acrescentar outros horrores: parou de beber, roeu unhas, se alimentou mal, empalideceu. Como um personagem romântico, sofreu de amores.
No sábado, por cima da camisa de seda amarela, fez questão de usar um lenço colorado. E assim vestido, como um piá que vai para a primeira comunhão, "esticou as canelas" até a gruta de Bom Jesus de Iguape.
Mal chegou lá, encostou no primeiro balcão que viu e, "pra firmá o purso e diminuí o nervoso", pediu um liso de canha. Depois, tomou uma cerveja − para rebater.
E teria ficado ali, bebericando, durante uma eternidade se não tivesse encontrado um amigo de infância. Começaram a contar "causo dus antigamente", Betão se distraiu, e a conversa ficou "loca di especiar, qui nem dinhero achado".
Só depois de umas dez cervejas e duas porções de linguiça frita, o nosso herói foi em frente, disposto a conquistar o coraçãozinho de gazela de sua amada.
No quiosque do Gervásio, pediu um engradado de cerveja e disse, em alto e bom tom, para quem quisesse ouvir, que o amor precisa ser comemorado como uma dádiva divina. Em seguida, mandou distribuir "pra xiruzada macanuda" metade das "ampolas". A outra metade fez corredeira na garganta de Betão. Pelo entusiasmo, poder−se−ia dizer que o cara estava com tudo e não estava prosa.
Isso era apenas aparência. Tanto que Betão estava bebendo para afogar as mágoas. Em sua mente, a vida parecia letra de bolero. Só faltava ouvir as vozes de Lucho Gatica e Altemar Dutra: "El día que me quieras / la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su / mejor / color."
Pediu mais alguns quilos de cerveja, vários centímetros de cachaça e umas três coxinhas de galinha (uma gota de óleo escorreu pela camisa). Dez minutos depois, debruçado sobre a mesa de metal, babando ligeiramente, entrou em coma alcoólica.
Foi nesse instante que Miosótis, na companhia de amigos, sentou próxima da mesa onde o esqueleto de Betão da Penha roncava. Com voz mimosa, puro veludo, a garota pediu um guaraná diet. E, intimamente, lamentou não ter um namorado.
sexta-feira, 17 de junho de 2011
DICIONÁRIO DE LAGEANÊS
Si num quizé iscuitá baruio di purungo, num acuiéri di dois.
Em 2000, quando estava terminando o mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, houve quem me pedisse "tradução" para o ditado popular acima.
Esse incidente me alertou para a necessidade de resgatar parte daquilo que poderíamos chamar de "a identidade lageana". Uma das muitas formas de efetivar esse tipo de ação cultural seria a organização de um pequeno dicionário de lageanês. Nada muito complicado ou acadêmico, mas que seja versátil o suficiente para abranger e explicar algumas das mais importantes manifestações do pensamento dos habitantes do Planalto Catarinense.
Por que é importante organizar e publicar um dicionário de lageanês? Várias são as respostas, mas talvez a mais importante seja a de que precisamos estar conscientes de que o a−pós−a−modernidade (manifesto, principalmente, pelos avanços da tecnologia) trabalha para eliminar as diferenças culturais, estabelecendo, entre outros efeitos, um padrão lingüístico único. E isso resulta em mais uma dificuldade: há quem defenda a tese de que o país inteiro deve falar/escrever segundo as regras da "norma culta" (também conhecida como a "tirania da gramática"), ou, pior, pelo "padrão Globo", pois desta forma a língua seria, de fato, "única" em todo o Brasil.
O problema é que esse tipo de proposta causa a destruição da História (lingüística, cultural) dos agrupamentos humanos. A formação social de cada comunidade se realiza através da soma de diversas influências e isso se reflete no comportamento e no falar do povo que habita aquela região. Ou seja, o dialeto regional é sempre a expressão de um universo rico em significados e alusões muito específicos. No caso dos lageanos e, por extensão, dos serranos, cabe lembrar que algumas das expressões mais usadas na região remontam ao português arcaico dos tempos de fundação da cidade.
Iniciativas similares (dicionarizar os dialetos regionais) já foram realizadas – e com sucesso! – em Porto Alegre, Florianópolis e em quase todas as capitais do Nordeste.
Está na hora de publicarmos o nosso dicionário de lageanês!
Em 2000, quando estava terminando o mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina, houve quem me pedisse "tradução" para o ditado popular acima.
Esse incidente me alertou para a necessidade de resgatar parte daquilo que poderíamos chamar de "a identidade lageana". Uma das muitas formas de efetivar esse tipo de ação cultural seria a organização de um pequeno dicionário de lageanês. Nada muito complicado ou acadêmico, mas que seja versátil o suficiente para abranger e explicar algumas das mais importantes manifestações do pensamento dos habitantes do Planalto Catarinense.
Por que é importante organizar e publicar um dicionário de lageanês? Várias são as respostas, mas talvez a mais importante seja a de que precisamos estar conscientes de que o a−pós−a−modernidade (manifesto, principalmente, pelos avanços da tecnologia) trabalha para eliminar as diferenças culturais, estabelecendo, entre outros efeitos, um padrão lingüístico único. E isso resulta em mais uma dificuldade: há quem defenda a tese de que o país inteiro deve falar/escrever segundo as regras da "norma culta" (também conhecida como a "tirania da gramática"), ou, pior, pelo "padrão Globo", pois desta forma a língua seria, de fato, "única" em todo o Brasil.
O problema é que esse tipo de proposta causa a destruição da História (lingüística, cultural) dos agrupamentos humanos. A formação social de cada comunidade se realiza através da soma de diversas influências e isso se reflete no comportamento e no falar do povo que habita aquela região. Ou seja, o dialeto regional é sempre a expressão de um universo rico em significados e alusões muito específicos. No caso dos lageanos e, por extensão, dos serranos, cabe lembrar que algumas das expressões mais usadas na região remontam ao português arcaico dos tempos de fundação da cidade.
Iniciativas similares (dicionarizar os dialetos regionais) já foram realizadas – e com sucesso! – em Porto Alegre, Florianópolis e em quase todas as capitais do Nordeste.
Está na hora de publicarmos o nosso dicionário de lageanês!
quinta-feira, 16 de junho de 2011
JOHN´S DAY, OU MELHOR, RATH´S DAY
Durante anos, lá nos fundos de A Sua Livraria, os finais de manhã eram reservados à conversa fiada. O cenário não apresentava muitos elementos׃ João Rath atrás da escrivaninha, algum amigo sentado no sofá. Enquanto João conferia os pagamentos bancários do dia, o visitante lia os jornais. Muitas vezes João era interrompido por comentários indignados sobre alguma coisa tola, dessas que jamais vão alterar a ordem do mundo – apesar de estarem estampadas nas manchetes do dia. Ele parava o serviço, fazia de conta que não estava sendo incomodado, e, como nunca entrava em divididas ou sustentava posições radicais, dizia alguma coisa contemporizadora. Em seguida, voltava aos cálculos. Normalmente, era o suficiente para restabelecer a ordem.
Claro que alguns visitantes (Lélia Pamplona, Sergio Ramos, Ari Martendal, Valmir Nunes, Edézio Caon, Alcione Wagner, eu, entre outros) não se contentavam em ser abandonados alegremente. Em caso de desespero, principalmente quando o Mestre não atendia as nossas carências afetivas, assuntos não faltavam. Bastava recordar o antigamente, os bailes no Quatorze, o "footing" nos tempos de "A voz da cidade", os piqueniques que deixaram saudade, momento em que ninguém consegue se controlar quando percebe que o tempo engoliu a toalha xadrez, centenas de formigas e uma garoa fina no meio da tarde.
João, chateado pela quebra da rotina, alegre por poder dialogar com os amigos, esquecia – por algum tempo − a administração da livraria, e se dedicava ao doce prazer de "jogar conversa fora". E contava histórias fantásticas (algumas se repetiam, mas isso nunca foi importante, parece até que adquiriam um sabor renovado, muito mais delicioso).
Essa imagem pertence a um mundo que se perdeu. A livraria não existe mais. João (um "rath" de livraria, como ele gostava de trocadilhar) se aposentou. Alguns dos amigos que se encontravam na livraria também já foram embora. Essa é a parte chata do existir. No entanto, o que importa neste momento é outra coisa: João, apesar de alguns problemas de saúde, continua forte, hoje é o seu aniversário, 87 anos.
Há uma coincidência estranha no fato de um livreiro ter nascido em um dia que a literatura mundial considera especial. Hoje é também o Bloom’s day, "Dia de Bloom", dia em que os desencontros entre Leopold Bloom, Molly Bloom e Stephen Dedalus são narrados nas oitocentas e tantas paginas do romance "Ulisses", escrito por James Joyce.
Entre Dublin, na Irlanda, e Lages, no Brasil, diferenças inquestionáveis. Mas também há esse elo, essa forma pouco ortodoxa da literatura estabelecer um ponto de contato entre a vida e a ficção.
Hoje é dia de ir abraçar João, aquele que sempre considerei meu avô postiço – e que sempre me tratou com o carinho e paciência. Hoje é dia de dizer, em voz alta, sem medo, que ele é uma parte muito especial de nossas vidas (na minha, na de sua esposa, na de seus filhos e netos, na dos amigos). Hoje é o dia de João: John’s Day, ou melhor, Rath’s day.
Alguns "maus elementos" da turma (da esquerda para a direita): João Francisco Regis Rath de Oliveira, Danilo Thiago de Castro, Nereu de Lima Goss, José Ari Celso Martendal, Raul José Matos de Arruda Filho. Na parede, um retrato de mocidade, a nos lembrar a passagem - inexorável! - do tempo.
Claro que alguns visitantes (Lélia Pamplona, Sergio Ramos, Ari Martendal, Valmir Nunes, Edézio Caon, Alcione Wagner, eu, entre outros) não se contentavam em ser abandonados alegremente. Em caso de desespero, principalmente quando o Mestre não atendia as nossas carências afetivas, assuntos não faltavam. Bastava recordar o antigamente, os bailes no Quatorze, o "footing" nos tempos de "A voz da cidade", os piqueniques que deixaram saudade, momento em que ninguém consegue se controlar quando percebe que o tempo engoliu a toalha xadrez, centenas de formigas e uma garoa fina no meio da tarde.
João, chateado pela quebra da rotina, alegre por poder dialogar com os amigos, esquecia – por algum tempo − a administração da livraria, e se dedicava ao doce prazer de "jogar conversa fora". E contava histórias fantásticas (algumas se repetiam, mas isso nunca foi importante, parece até que adquiriam um sabor renovado, muito mais delicioso).
Essa imagem pertence a um mundo que se perdeu. A livraria não existe mais. João (um "rath" de livraria, como ele gostava de trocadilhar) se aposentou. Alguns dos amigos que se encontravam na livraria também já foram embora. Essa é a parte chata do existir. No entanto, o que importa neste momento é outra coisa: João, apesar de alguns problemas de saúde, continua forte, hoje é o seu aniversário, 87 anos.
Há uma coincidência estranha no fato de um livreiro ter nascido em um dia que a literatura mundial considera especial. Hoje é também o Bloom’s day, "Dia de Bloom", dia em que os desencontros entre Leopold Bloom, Molly Bloom e Stephen Dedalus são narrados nas oitocentas e tantas paginas do romance "Ulisses", escrito por James Joyce.
Entre Dublin, na Irlanda, e Lages, no Brasil, diferenças inquestionáveis. Mas também há esse elo, essa forma pouco ortodoxa da literatura estabelecer um ponto de contato entre a vida e a ficção.
Hoje é dia de ir abraçar João, aquele que sempre considerei meu avô postiço – e que sempre me tratou com o carinho e paciência. Hoje é dia de dizer, em voz alta, sem medo, que ele é uma parte muito especial de nossas vidas (na minha, na de sua esposa, na de seus filhos e netos, na dos amigos). Hoje é o dia de João: John’s Day, ou melhor, Rath’s day.
Alguns "maus elementos" da turma (da esquerda para a direita): João Francisco Regis Rath de Oliveira, Danilo Thiago de Castro, Nereu de Lima Goss, José Ari Celso Martendal, Raul José Matos de Arruda Filho. Na parede, um retrato de mocidade, a nos lembrar a passagem - inexorável! - do tempo.
quarta-feira, 15 de junho de 2011
TRINTA FRASES
- O problema das médias é que, em geral, elas são tiradas por medíocres. (Roberto Campos)
- Um idiota sempre encontra um idiota ainda maior para admirá−lo. (Nicolas Boileau)
- Que as pulgas de mil camelos infestem seus sovacos! (Maldição árabe)
- Talento é, com freqüência, um defeito de caráter. (Karl Kraus)
- Detesto as vítimas que respeitam seus carrascos. (Jean−Paul Sartre)
- O bom gosto vem mais do julgamento que do espírito. (La Rochefoucauld)
- Todo crime é vulgar, da mesma maneira que toda vulgaridade é crime. (Oscar Wilde)
- O esporte é a alta cultura dos sem imaginação, que são três quartos da humanidade. (Paulo Francis)
- Uma ereção sempre disponível é o equivalente moral de um cartão de crédito. (Alex Comfort)
- A memória é uma velha louca que guarda trapos coloridos e joga comida fora. (Austin O’Malley)
- Um homem bem−educado é aquele que sabe quais dedos usar ao assoviar pelo garçom. (Joan Rivers)
- O supérfluo é uma coisa extremamente necessária. (Voltaire)
- Adolescência: um estágio entre a infância e o adultério. (H. L. Mencken)
- Infeliz o povo que precisa de heróis. (Bertold Brecht)
- Uma vez igualadas aos homens, as mulheres se tornam seus superiores. (Sócrates)
- Especialistas são pessoas que sempre repetem os mesmos erros. (Walter Gropius)
- O otimista erra tanto quanto o pessimista, mas pelo menos sofre só uma vez. (Fernando Sabino)
- Cigarro dá câncer, telefone celular dá câncer, TV dá câncer, videogame dá câncer. O governo dá canseira. (Ana Maria Ramalho)
- Toda espécie de dependência é ruim. Não importa que o narcótico seja o álcool, a morfina ou o idealismo. (Carl Gustav Jung)
- Se eu acho que sexo é sacanagem? Só quando é bem feito. (Woody Allen)
- Não consulte um médico cujas plantas do consultório morreram. (Erma Bombeck)
- Os ricos podem não ir para o céu, mas os pobres já estão cumprindo pena no inferno. (Alexandre Chase)
- O brasileiro é um povo com os pés no chão. E as mãos também. (Ivan Lessa)
- A mentira é a verdade atrás da máscara (Lord Byron)
- Haverá sempre uma guerra entre os sexos, porque homens e mulheres querem coisas diferentes: os homens querem mulheres e as mulheres querem homens. (George Burns)
- Qualquer escolar pode amar como um idiota. Mas odiar, meu filho, é uma arte. (Ogden Nash)
- Sou uma ótima dona−de−casa. Sempre que me divorcio, eu fico com a casa. (Zsa Zsa Gabor)
- Primos e pombos é que sujam a casa. (Barão de Itararé)
- Se as pessoas comprassem os discos pela música, o rock já teria acabado há muito tempo. (Malcolm McLaren)
- Quando seu terceiro marido morreu, ela ficou loura de desgosto. (Oscar Wilde)
- Um idiota sempre encontra um idiota ainda maior para admirá−lo. (Nicolas Boileau)
- Que as pulgas de mil camelos infestem seus sovacos! (Maldição árabe)
- Talento é, com freqüência, um defeito de caráter. (Karl Kraus)
- Detesto as vítimas que respeitam seus carrascos. (Jean−Paul Sartre)
- O bom gosto vem mais do julgamento que do espírito. (La Rochefoucauld)
- Todo crime é vulgar, da mesma maneira que toda vulgaridade é crime. (Oscar Wilde)
- O esporte é a alta cultura dos sem imaginação, que são três quartos da humanidade. (Paulo Francis)
- Uma ereção sempre disponível é o equivalente moral de um cartão de crédito. (Alex Comfort)
- A memória é uma velha louca que guarda trapos coloridos e joga comida fora. (Austin O’Malley)
- Um homem bem−educado é aquele que sabe quais dedos usar ao assoviar pelo garçom. (Joan Rivers)
- O supérfluo é uma coisa extremamente necessária. (Voltaire)
- Adolescência: um estágio entre a infância e o adultério. (H. L. Mencken)
- Infeliz o povo que precisa de heróis. (Bertold Brecht)
- Uma vez igualadas aos homens, as mulheres se tornam seus superiores. (Sócrates)
- Especialistas são pessoas que sempre repetem os mesmos erros. (Walter Gropius)
- O otimista erra tanto quanto o pessimista, mas pelo menos sofre só uma vez. (Fernando Sabino)
- Cigarro dá câncer, telefone celular dá câncer, TV dá câncer, videogame dá câncer. O governo dá canseira. (Ana Maria Ramalho)
- Toda espécie de dependência é ruim. Não importa que o narcótico seja o álcool, a morfina ou o idealismo. (Carl Gustav Jung)
- Se eu acho que sexo é sacanagem? Só quando é bem feito. (Woody Allen)
- Não consulte um médico cujas plantas do consultório morreram. (Erma Bombeck)
- Os ricos podem não ir para o céu, mas os pobres já estão cumprindo pena no inferno. (Alexandre Chase)
- O brasileiro é um povo com os pés no chão. E as mãos também. (Ivan Lessa)
- A mentira é a verdade atrás da máscara (Lord Byron)
- Haverá sempre uma guerra entre os sexos, porque homens e mulheres querem coisas diferentes: os homens querem mulheres e as mulheres querem homens. (George Burns)
- Qualquer escolar pode amar como um idiota. Mas odiar, meu filho, é uma arte. (Ogden Nash)
- Sou uma ótima dona−de−casa. Sempre que me divorcio, eu fico com a casa. (Zsa Zsa Gabor)
- Primos e pombos é que sujam a casa. (Barão de Itararé)
- Se as pessoas comprassem os discos pela música, o rock já teria acabado há muito tempo. (Malcolm McLaren)
- Quando seu terceiro marido morreu, ela ficou loura de desgosto. (Oscar Wilde)
terça-feira, 14 de junho de 2011
segunda-feira, 13 de junho de 2011
ÁLVARO ROGÉRIO MUNIZ
Toda vez que perdemos alguém que nos é próximo, alguém que admiramos, um familiar, um amigo, o desânimo se instala. É difícil carregar os mortos − seja metafórico, seja dolorosamente real, esse transporte exige forças que poucas vezes conseguimos obter.
A amizade que me unia ao Álvaro Rogério Muniz (falecido na última quinta−feira) estava sedimentada na troca de gentilezas masculinas. Insultos e insinuações sobre a vida sexual eram constantes. Quando a "empulhação" (que é uma forma regional de sacanear a vítima) era impossível, ninguém fazia economia naquelas palavras que os mais educados evitam pronunciar em público. Nós escolhíamos as piores possíveis – exatamente porque são as mais divertidas.
Fomos amigos durante mais de 30 anos. Inclusive porque trabalhamos juntos, durante o governo municipal de Carlos Fernando Agustini – eu, como funcionário menor na Comunicação Social, ele como presidente da Fundação Municipal de Esportes. Então, nosso contato nessa época foi constante, muitas atividades esportivas para serem divulgadas.
Depois dessa experiência administrativa, por contingências da vida, tomamos rumos diferentes: eu, em Florianópolis; ele, em Balneário Camboriú. Ou seja, passamos um tempo sem ter notícias um do outro. Depois que voltei para Lages, de vez em quando o encontrava no calçadão − ele freqüentemente subia a Serra para ver os filhos, os parentes, resolver questões pessoais.
Um dos nossos interesses comuns era a política (esportiva, partidária). Então, nossas conversas tangenciavam essa questão. Nos momentos mais amenos, falávamos mal, muito mal, dos outros. Apenas para expelir veneno, para "cornetear" os ingênuos e os políticos. Era uma forma de terapia ocupacional – com a vantagem de não precisar pagar pelo terapeuta.
Uma das últimas vezes que o vi foi em frente à agência central do antigo BESC. Lembro que ele tentou se esconder de mim. Nada pessoal. Quer dizer... Ele tentou se esconder de si mesmo. Apesar do histórico médico horroroso, Álvaro nunca conseguiu parar de fumar. Bem, parar ele parou – centenas de vezes. Infelizmente, voltou ao vício – centenas de vezes. Ao me ver, sabendo que eu iria "encher o saco", tentou fugir da patrulha anti−tabagista. Tarefa mal sucedida, óbvio. Como é que um cara com o tamanho de um ex−jogador de basquete consegue se esconder atrás de uma pilastra?
Foi como jogador e, depois, técnico de basquete que "Cacique" (apelido que carregou pela vida afora) ficou conhecido no mundo esportivo catarinense. Seus atletas, alunos do Colégio Diocesano, foram multicampeões nas diversas categorias etárias. Para obter esse sucesso, Álvaro não economizou energia, gritos, ameaças e palavrões. Sabia que a transfusão de confiança no esporte envolve uma dinâmica muito complexa (ponta−pés misturados com afagos) entre treinador e atleta. Se tivesse que fazer o mesmo serviço nos dias de hoje, com todo esse cerceamento promovido pelo politicamente correto, provavelmente algum pai histérico o teria denunciado por maus−tratos. Ou coisa pior. De qualquer maneira, no mundo esportivo, alguém precisa fazer o trabalho sujo – e ele nunca se esquivou da responsabilidade. Em contrapartida, foram as bolsas de estudo fornecidas pelo basquete (ou seja, por Álvaro) que possibilitaram ensino de qualidade para muitos atletas. Vários jogadores agarraram essa "chance de ouro" e alteraram um destino que parecia os condenar a viver na linha da pobreza.
 No mundo esportivo, sempre fui espectador. Ou seja, raras vezes entendi os acontecimentos fora do espaço lúdico. As brigas nos bastidores, a guerra psicológica nos vestiários, o mundo passional de cada jogador, nunca tive interesse nessas coisas. É provável que Álvaro tivesse alguns defeitos, como alegam os desafetos. Mas, sentado na arquibancada, só consigo me lembrar das vezes em que o vi vibrando com cestas inesperadas, só tenho lembranças das piadas grosseiras, das risadas despreocupadas e da vontade insaciável de vencer.
No mundo esportivo, sempre fui espectador. Ou seja, raras vezes entendi os acontecimentos fora do espaço lúdico. As brigas nos bastidores, a guerra psicológica nos vestiários, o mundo passional de cada jogador, nunca tive interesse nessas coisas. É provável que Álvaro tivesse alguns defeitos, como alegam os desafetos. Mas, sentado na arquibancada, só consigo me lembrar das vezes em que o vi vibrando com cestas inesperadas, só tenho lembranças das piadas grosseiras, das risadas despreocupadas e da vontade insaciável de vencer.
Álvaro: ficamos mais sozinhos sem você!
As fotos de basquete foram cedidas por Marcelo Menegotto (da esquerda para a direita, o quarto em pé). Interessante notar que pelo menos dois dos meninos da foto acima (1989) jogaram basquete profissional (Rafael, ao lado de Álvaro) e Felipe (da esquerda para a direita, o quarto, agachado).
A amizade que me unia ao Álvaro Rogério Muniz (falecido na última quinta−feira) estava sedimentada na troca de gentilezas masculinas. Insultos e insinuações sobre a vida sexual eram constantes. Quando a "empulhação" (que é uma forma regional de sacanear a vítima) era impossível, ninguém fazia economia naquelas palavras que os mais educados evitam pronunciar em público. Nós escolhíamos as piores possíveis – exatamente porque são as mais divertidas.
Fomos amigos durante mais de 30 anos. Inclusive porque trabalhamos juntos, durante o governo municipal de Carlos Fernando Agustini – eu, como funcionário menor na Comunicação Social, ele como presidente da Fundação Municipal de Esportes. Então, nosso contato nessa época foi constante, muitas atividades esportivas para serem divulgadas.
Depois dessa experiência administrativa, por contingências da vida, tomamos rumos diferentes: eu, em Florianópolis; ele, em Balneário Camboriú. Ou seja, passamos um tempo sem ter notícias um do outro. Depois que voltei para Lages, de vez em quando o encontrava no calçadão − ele freqüentemente subia a Serra para ver os filhos, os parentes, resolver questões pessoais.
Um dos nossos interesses comuns era a política (esportiva, partidária). Então, nossas conversas tangenciavam essa questão. Nos momentos mais amenos, falávamos mal, muito mal, dos outros. Apenas para expelir veneno, para "cornetear" os ingênuos e os políticos. Era uma forma de terapia ocupacional – com a vantagem de não precisar pagar pelo terapeuta.
Uma das últimas vezes que o vi foi em frente à agência central do antigo BESC. Lembro que ele tentou se esconder de mim. Nada pessoal. Quer dizer... Ele tentou se esconder de si mesmo. Apesar do histórico médico horroroso, Álvaro nunca conseguiu parar de fumar. Bem, parar ele parou – centenas de vezes. Infelizmente, voltou ao vício – centenas de vezes. Ao me ver, sabendo que eu iria "encher o saco", tentou fugir da patrulha anti−tabagista. Tarefa mal sucedida, óbvio. Como é que um cara com o tamanho de um ex−jogador de basquete consegue se esconder atrás de uma pilastra?
Foi como jogador e, depois, técnico de basquete que "Cacique" (apelido que carregou pela vida afora) ficou conhecido no mundo esportivo catarinense. Seus atletas, alunos do Colégio Diocesano, foram multicampeões nas diversas categorias etárias. Para obter esse sucesso, Álvaro não economizou energia, gritos, ameaças e palavrões. Sabia que a transfusão de confiança no esporte envolve uma dinâmica muito complexa (ponta−pés misturados com afagos) entre treinador e atleta. Se tivesse que fazer o mesmo serviço nos dias de hoje, com todo esse cerceamento promovido pelo politicamente correto, provavelmente algum pai histérico o teria denunciado por maus−tratos. Ou coisa pior. De qualquer maneira, no mundo esportivo, alguém precisa fazer o trabalho sujo – e ele nunca se esquivou da responsabilidade. Em contrapartida, foram as bolsas de estudo fornecidas pelo basquete (ou seja, por Álvaro) que possibilitaram ensino de qualidade para muitos atletas. Vários jogadores agarraram essa "chance de ouro" e alteraram um destino que parecia os condenar a viver na linha da pobreza.
 No mundo esportivo, sempre fui espectador. Ou seja, raras vezes entendi os acontecimentos fora do espaço lúdico. As brigas nos bastidores, a guerra psicológica nos vestiários, o mundo passional de cada jogador, nunca tive interesse nessas coisas. É provável que Álvaro tivesse alguns defeitos, como alegam os desafetos. Mas, sentado na arquibancada, só consigo me lembrar das vezes em que o vi vibrando com cestas inesperadas, só tenho lembranças das piadas grosseiras, das risadas despreocupadas e da vontade insaciável de vencer.
No mundo esportivo, sempre fui espectador. Ou seja, raras vezes entendi os acontecimentos fora do espaço lúdico. As brigas nos bastidores, a guerra psicológica nos vestiários, o mundo passional de cada jogador, nunca tive interesse nessas coisas. É provável que Álvaro tivesse alguns defeitos, como alegam os desafetos. Mas, sentado na arquibancada, só consigo me lembrar das vezes em que o vi vibrando com cestas inesperadas, só tenho lembranças das piadas grosseiras, das risadas despreocupadas e da vontade insaciável de vencer. Álvaro: ficamos mais sozinhos sem você!
As fotos de basquete foram cedidas por Marcelo Menegotto (da esquerda para a direita, o quarto em pé). Interessante notar que pelo menos dois dos meninos da foto acima (1989) jogaram basquete profissional (Rafael, ao lado de Álvaro) e Felipe (da esquerda para a direita, o quarto, agachado).
sexta-feira, 10 de junho de 2011
BÊBADOS DE FELICIDADE
Para admiração geral, estavam cantando. Abraçados e bêbados, um equilibrando o outro, caminhavam pela calçada. Abriam caminho, no meio da multidão, com suas vozes desafinadas. Não estavam preocupados com a música. O que queriam era proclamar a alegria. E, por isso mesmo, cantavam. Um samba−canção, desses que garantem que o amor é invencível, eterno e maravilhoso.
Algumas vezes ele se deixava levar pelo delírio e parava a cantoria para olhar o espanto colado no rosto dos transeuntes. Outras vezes esquecia os versos e ficava remoendo uma algaravia particular, absolutamente fora de ritmo.
Nas duas situações, ela olhava para ele e sorria. E continuava cantando. Sabia que uma bobagem qualquer não deveria servir de motivo para estragar aquela festa tão bonita. Com a altivez de prima donna se entregava, ainda com mais vigor, ao ritual religioso da música. E sustentava a performance até que ele pudesse recuperar a lucidez e o rumo.
Caminhavam para o paraíso. Era essa a impressão que aquela encenação causava.
Maltrapilhos, com uma garrafa de cachaça pela metade, viajando entre mãos e bocas em incríveis evoluções acrobáticas, compunham um quadro poético surreal em uma dessas manhãs em que todos procuram resguardar para si mesmos o prazer de estarem vivos.
Em meio ao burburinho, eles cantavam.
Parei e fiquei olhando a cena. Parecia ser apenas mais uma loucura dessa cidade onde os doidos−de−plantão andam cada vez mais soltos, livres do porão ou do sótão onde antigamente eram encerrados.
O mundo mudou, pensei ao ver casal tão estranho. E balancei a cabeça, incrédulo aos desacertos da vida.
Quando eles dobraram a esquina, senti um incerto desconforto – aquela alegria era assustadora.
Enquanto voltava às minhas aborrecidas atribulações cotidianas, não pude deixar de olhar para trás, procurando pela voz e pela imagem de dois mendigos, bêbados de felicidade.
Algumas vezes ele se deixava levar pelo delírio e parava a cantoria para olhar o espanto colado no rosto dos transeuntes. Outras vezes esquecia os versos e ficava remoendo uma algaravia particular, absolutamente fora de ritmo.
Nas duas situações, ela olhava para ele e sorria. E continuava cantando. Sabia que uma bobagem qualquer não deveria servir de motivo para estragar aquela festa tão bonita. Com a altivez de prima donna se entregava, ainda com mais vigor, ao ritual religioso da música. E sustentava a performance até que ele pudesse recuperar a lucidez e o rumo.
Caminhavam para o paraíso. Era essa a impressão que aquela encenação causava.
Maltrapilhos, com uma garrafa de cachaça pela metade, viajando entre mãos e bocas em incríveis evoluções acrobáticas, compunham um quadro poético surreal em uma dessas manhãs em que todos procuram resguardar para si mesmos o prazer de estarem vivos.
Em meio ao burburinho, eles cantavam.
Parei e fiquei olhando a cena. Parecia ser apenas mais uma loucura dessa cidade onde os doidos−de−plantão andam cada vez mais soltos, livres do porão ou do sótão onde antigamente eram encerrados.
O mundo mudou, pensei ao ver casal tão estranho. E balancei a cabeça, incrédulo aos desacertos da vida.
Quando eles dobraram a esquina, senti um incerto desconforto – aquela alegria era assustadora.
Enquanto voltava às minhas aborrecidas atribulações cotidianas, não pude deixar de olhar para trás, procurando pela voz e pela imagem de dois mendigos, bêbados de felicidade.
quinta-feira, 9 de junho de 2011
A FESTA E O SOUVENIR
Todas as festas de aniversário são chatas. Algumas mais do que as outras. Aquela, por exemplo, bateu todos os recordes. Promovida por um, digamos, "novo rico", sedento em sua escalada de alpinista social, reuniu "todo mundo" (leia−se, somente aqueles que fazem parte da tchurma). O esnobismo era tanto que o "rei da cocada preta" alugou uma chácara para o "happening".
O anfitrião vestia bermuda e a camiseta com estampa alusiva ao evento, a mão direita, apoiada na barriga indecente (típico visual de caminhoneiro bêbado, três mil quilômetros longe de casa), segurava um copo de plástico com cerveja choca. Na porta, recebia os convidados com falso carinho, muitos sorrisos e um arzinho de "Meus Deus, eu cheguei lá", embora não soubesse distinguir o aqui do acolá.
Um conjunto "cover" (des)animava o evento. Tocavam todo aquele barulho que compõe o lixo que toca nas rádios ou na casa de quem não tem gosto musical. Até fandango "nativista" assustou o público desavisado, aqueles que imaginavam que festa é sinônimo de diversão.
Eram seis e não haviam sido convidados. Como conheciam o aniversariante, e eram cara−de−paus, foram entrando, se enturmando e depois de uns dois ou três uísques a vida estava sob controle. Dois deles até arriscaram a sorte com algumas aprendizes de peruas que aparentemente estavam a procura de carinho. Não era ganhar na loteria, mas...
Duas horas depois, o líder do bando, cansado de ver tantos idiotas fantasiados de imbecis, resolveu ir embora. Antes, reuniu o pessoal e abriu o jogo:
− Isso aqui está uma porcaria. Vou voltar para a civilização. Quem é que vem comigo?
Todos concordaram com a proposta, mas com uma objeção: era necessário levar uma recordação, sem um souvenir ninguém deveria sair da festa.
Tudo bem, mas levar o quê? Alguém sugeriu o espelho do banheiro, uma coisa enorme, uns dois metros quadrados. A proposta não obteve quorum, apesar de mais tarde alguém se perguntar: por que não? O carro do aniversariante também foi recusado. No meio do impasse, João lembrou um "objeto sagrado", e, portanto, ideal para o sequestro. A adesão foi geral.
Começaram a conversar sobre os preparativos do plano estratégico e tático para liquidar a fatura. João foi descobrir a localização do alvo. Pedro e Antônia colocaram os carros da turma em posição adequada para a fuga. Os demais ficaram pelo caminho, "cobrindo" a operação.
Depois de intermináveis cinco minutos, João saiu de um dos quartos, atravessou o salão onde todos estavam dançando com o "souvenir" na mão. Entrou na cozinha, sorriu para todo mundo, e saiu, lépido e faceiro, pela porta dos fundos.
Conta a lenda que foi grande o espanto dos "festeiros", algum tempo depois, quando, no momento de cantar o "Parabéns", descobriram o elementar: alguém havia roubado o bolo de aniversário!
O anfitrião vestia bermuda e a camiseta com estampa alusiva ao evento, a mão direita, apoiada na barriga indecente (típico visual de caminhoneiro bêbado, três mil quilômetros longe de casa), segurava um copo de plástico com cerveja choca. Na porta, recebia os convidados com falso carinho, muitos sorrisos e um arzinho de "Meus Deus, eu cheguei lá", embora não soubesse distinguir o aqui do acolá.
Um conjunto "cover" (des)animava o evento. Tocavam todo aquele barulho que compõe o lixo que toca nas rádios ou na casa de quem não tem gosto musical. Até fandango "nativista" assustou o público desavisado, aqueles que imaginavam que festa é sinônimo de diversão.
Eram seis e não haviam sido convidados. Como conheciam o aniversariante, e eram cara−de−paus, foram entrando, se enturmando e depois de uns dois ou três uísques a vida estava sob controle. Dois deles até arriscaram a sorte com algumas aprendizes de peruas que aparentemente estavam a procura de carinho. Não era ganhar na loteria, mas...
Duas horas depois, o líder do bando, cansado de ver tantos idiotas fantasiados de imbecis, resolveu ir embora. Antes, reuniu o pessoal e abriu o jogo:
− Isso aqui está uma porcaria. Vou voltar para a civilização. Quem é que vem comigo?
Todos concordaram com a proposta, mas com uma objeção: era necessário levar uma recordação, sem um souvenir ninguém deveria sair da festa.
Tudo bem, mas levar o quê? Alguém sugeriu o espelho do banheiro, uma coisa enorme, uns dois metros quadrados. A proposta não obteve quorum, apesar de mais tarde alguém se perguntar: por que não? O carro do aniversariante também foi recusado. No meio do impasse, João lembrou um "objeto sagrado", e, portanto, ideal para o sequestro. A adesão foi geral.
Começaram a conversar sobre os preparativos do plano estratégico e tático para liquidar a fatura. João foi descobrir a localização do alvo. Pedro e Antônia colocaram os carros da turma em posição adequada para a fuga. Os demais ficaram pelo caminho, "cobrindo" a operação.
Depois de intermináveis cinco minutos, João saiu de um dos quartos, atravessou o salão onde todos estavam dançando com o "souvenir" na mão. Entrou na cozinha, sorriu para todo mundo, e saiu, lépido e faceiro, pela porta dos fundos.
Conta a lenda que foi grande o espanto dos "festeiros", algum tempo depois, quando, no momento de cantar o "Parabéns", descobriram o elementar: alguém havia roubado o bolo de aniversário!
quarta-feira, 8 de junho de 2011
REINALDO MORAES E A LITERATURA
Seguindo uma regra que dizem ter sido propalada e praticada por Leila Diniz (sem palavrão não há solução), destruindo o politicamente correto, declarando com todas as letras e sons o instinto predador (e canalha) dos homens, Reinaldo Moraes, um velho novo escritor, está a dar (epa!) cores menos pessimistas a essa ficção mais ou menos, provavelmente menos, que alguns doutos professores doutores (inclusive o que está a brigar com essas mal−traçadas, digo, mal−tratadas linhas), na falta de expressão melhor, costumam chamar de literatura brasileira contemporânea.
Não é pouca coisa. Ou coisa pouca. Embora a união das palavras "pouca" e "coisa" na mesma estrutura frasal não ajude na construção das referências indispensáveis para estabelecer aquilo que, na ausência de conceito mais convincente, alguns chatos denominam cânone.
O que determina essa classificação desclassificada é a qualidade. Ou melhor, as qualidades. Ou pior, os defeitos. Apesar de ninguém com um mínimo de senso crítico conseguir separar o joio do trigo, o bom do ruim e o melhor do pior.
Na corrida insana por quinze minutos de fama, o capitalismo não perde tempo e transforma o objeto artístico em produto comercial, lata de massa de tomate ao lado de outra lata de massa de tomate na prateleira do supermercado das ilusões descartáveis. Em alguns casos, a obra em si (características, riqueza narrativa, insights, etc.) se perde diante das possibilidades criadas pelos fatores externos de comoção (mídia favorável, público alienado, escândalos, chiliques, etc.).
Talvez seja essa a forma de (des)entendimento que devemos usar diante da literatura produzida por Reinaldo Moraes. Pagando o preço por não compactuar com um dos grandes defeitos da literatura brasileira, a seriedade, embora esteja a soprar (finalmente) ventos frescos (epa!) e divertidos na "nossa" literatura, Reinaldo sempre foi "marginal", isto é, esteve (está) na margem da literatura comportada, "limpa", asséptica.
Como vigora no Brasil a tese que todo escritor deve tentar escrever uma obra−de−arte definitiva, um novo e mais sisudo Grande Sertões: Veredas, por exemplo, alguns dos nossos "melhores" escritores esquecem que os leitores precisam se divertir. José Paulo Paes, em texto escrito no século (ou melhor, no milênio) passado, reclamava a falta do entretenimento na literatura nacional. Se ainda estivesse vivo, o genial crítico provavelmente teria escrito uma crítica genial sobre esse imenso parque de diversões que é o romance "Pornopopéia" (Objetiva, 2009), um calhamaço libertino e libertador, brincadeira lúcida e lúdica com a última flor do felácio, tão puta e bela, que sonora se desdobra em tanto pau pra quanta obra.
(Parênteses necessário: Parte desse libelo contra as mentes e os sexos travados – o capítulo sobre as aventuras anárquicas e cafajestes do publicitário e ex−cineasta Zeca no templo indiano − deveria integrar todas as antologias do humor nacional.).
A recente edição dupla, formato de bolso, papel vagabundo (mas não muito), precinho camarada, não compra quem não quer ou não sabe ler (sim, o Brasil está cheio de analfabetos funcionais), reunindo "Tanto faz (1981) e Abacaxi (1985), publicada pela Companhia das Letras, garante ao leitor algo que estava a fazer falta na atualidade: boas gargalhadas.
Tanto faz anuncia a alegria solar em uma geografia fria e escura. Paris é uma festa e Ricardo de Mello, Ricardinho para os amigos e as amantes, celebra a sua temporada no paraíso, a pretexto de uma bolsa para estudar economia. Ciente que o existir depende de haver ou não uma última cerveja na geladeira, articulando o refinamento do discurso, misturando o escatológico e a educação "de berço", passeando pelo baixo marxismo e a alta cultura, confirmando que a canalhice é uma das mais significativas distinções da brasilidade, o narrador do romance, como toda metralhadora giratória, vai abatendo tudo o que encontra pela frente. Seria um horror, se não fosse divertido. Centrado em um tempo cronológico onde o maior perigo possível para um homem pouco sensato era a gonorréia, as confissões e confusões despudoradas de Little Richard se misturavam com o exílio emocional. Ao largo, como um desses navios que desaparecem no horizonte, provavelmente engolidos pelo oceano, o cenário do romance é povoado por imigrantes políticos, escritores frustrados, intelectuais chapados, a fauna toda, insuportavelmente humana. Impossível (para o leitor) se imaginar fora dessa bagunça.
Em Abacaxi, ainda mais doidão, muito mais canabismado, o mesmo Ricardo, com ares de dandi e modos de cafajeste, se diverte fazendo bilu−bilu na mediocridade que transita entre Nova Iorque e o Rio de Janeiro. Exagerando o estilo garanhão, o galã divide a sua cama com centena de mulheres. À medida do possível, o anti-herói vai evitando se apaixonar. E, enquanto o amor não aparece, traça todas as doidinhas que encontra, gozando sem culpa, ferocidade alegre, como compete ao Peter Pan que quase todos os homens sonham ser.
Trocando em miúdos, nos romances e contos escritos por Reinaldo Moraes, a dupla dinâmica sexo e drogas contamina o ambiente comportado da burguesia nem sempre muito liberal que nos cerca e, triste sina, nos governa. Os reprimidos−de−plantão incapazes de liberarem (hum...) o próprio prazer, sentem prazer cerceando o prazer alheio. Típico. Falta−lhes, por exemplo, entender o encanto carnal (erótico, pornográfico, picaresco, lúbrico, voluptuoso, lascivo) do conto Carta n° 2, incluído em Umidade (Companhia das Letras, 2005). Usando e (l)a(m)buzando a (ins)piração dionisíaca (quiçá, oswaldiana), Reinaldo Moraes desconstrói a carta de Pero Vaz de Caminha. Brincadeira a−pós−o−moderno, repleta de citações eruditas e malditas, até o Míquei Mauz ("de p’lúcia!") dá o ar da graça no meio (epa!) dos bacantes que largam seus bacamartes e descobrem o que é bacana. Corpos se contorcem em orgasmos e gritos histéricos de Quero mais! Com o livro na mão (!!!), o leitor rola pelo chão, a morrer de rir, a ressuscitar de prazer.
E, se ainda não disse, digo agora: Reinaldo Moraes é remédio certo contra úlcera, gastrite, mau humor, cara feia e burrice.
Não é pouca coisa. Ou coisa pouca. Embora a união das palavras "pouca" e "coisa" na mesma estrutura frasal não ajude na construção das referências indispensáveis para estabelecer aquilo que, na ausência de conceito mais convincente, alguns chatos denominam cânone.
O que determina essa classificação desclassificada é a qualidade. Ou melhor, as qualidades. Ou pior, os defeitos. Apesar de ninguém com um mínimo de senso crítico conseguir separar o joio do trigo, o bom do ruim e o melhor do pior.
Na corrida insana por quinze minutos de fama, o capitalismo não perde tempo e transforma o objeto artístico em produto comercial, lata de massa de tomate ao lado de outra lata de massa de tomate na prateleira do supermercado das ilusões descartáveis. Em alguns casos, a obra em si (características, riqueza narrativa, insights, etc.) se perde diante das possibilidades criadas pelos fatores externos de comoção (mídia favorável, público alienado, escândalos, chiliques, etc.).
Talvez seja essa a forma de (des)entendimento que devemos usar diante da literatura produzida por Reinaldo Moraes. Pagando o preço por não compactuar com um dos grandes defeitos da literatura brasileira, a seriedade, embora esteja a soprar (finalmente) ventos frescos (epa!) e divertidos na "nossa" literatura, Reinaldo sempre foi "marginal", isto é, esteve (está) na margem da literatura comportada, "limpa", asséptica.
Como vigora no Brasil a tese que todo escritor deve tentar escrever uma obra−de−arte definitiva, um novo e mais sisudo Grande Sertões: Veredas, por exemplo, alguns dos nossos "melhores" escritores esquecem que os leitores precisam se divertir. José Paulo Paes, em texto escrito no século (ou melhor, no milênio) passado, reclamava a falta do entretenimento na literatura nacional. Se ainda estivesse vivo, o genial crítico provavelmente teria escrito uma crítica genial sobre esse imenso parque de diversões que é o romance "Pornopopéia" (Objetiva, 2009), um calhamaço libertino e libertador, brincadeira lúcida e lúdica com a última flor do felácio, tão puta e bela, que sonora se desdobra em tanto pau pra quanta obra.
(Parênteses necessário: Parte desse libelo contra as mentes e os sexos travados – o capítulo sobre as aventuras anárquicas e cafajestes do publicitário e ex−cineasta Zeca no templo indiano − deveria integrar todas as antologias do humor nacional.).
A recente edição dupla, formato de bolso, papel vagabundo (mas não muito), precinho camarada, não compra quem não quer ou não sabe ler (sim, o Brasil está cheio de analfabetos funcionais), reunindo "Tanto faz (1981) e Abacaxi (1985), publicada pela Companhia das Letras, garante ao leitor algo que estava a fazer falta na atualidade: boas gargalhadas.
Tanto faz anuncia a alegria solar em uma geografia fria e escura. Paris é uma festa e Ricardo de Mello, Ricardinho para os amigos e as amantes, celebra a sua temporada no paraíso, a pretexto de uma bolsa para estudar economia. Ciente que o existir depende de haver ou não uma última cerveja na geladeira, articulando o refinamento do discurso, misturando o escatológico e a educação "de berço", passeando pelo baixo marxismo e a alta cultura, confirmando que a canalhice é uma das mais significativas distinções da brasilidade, o narrador do romance, como toda metralhadora giratória, vai abatendo tudo o que encontra pela frente. Seria um horror, se não fosse divertido. Centrado em um tempo cronológico onde o maior perigo possível para um homem pouco sensato era a gonorréia, as confissões e confusões despudoradas de Little Richard se misturavam com o exílio emocional. Ao largo, como um desses navios que desaparecem no horizonte, provavelmente engolidos pelo oceano, o cenário do romance é povoado por imigrantes políticos, escritores frustrados, intelectuais chapados, a fauna toda, insuportavelmente humana. Impossível (para o leitor) se imaginar fora dessa bagunça.
Em Abacaxi, ainda mais doidão, muito mais canabismado, o mesmo Ricardo, com ares de dandi e modos de cafajeste, se diverte fazendo bilu−bilu na mediocridade que transita entre Nova Iorque e o Rio de Janeiro. Exagerando o estilo garanhão, o galã divide a sua cama com centena de mulheres. À medida do possível, o anti-herói vai evitando se apaixonar. E, enquanto o amor não aparece, traça todas as doidinhas que encontra, gozando sem culpa, ferocidade alegre, como compete ao Peter Pan que quase todos os homens sonham ser.
Trocando em miúdos, nos romances e contos escritos por Reinaldo Moraes, a dupla dinâmica sexo e drogas contamina o ambiente comportado da burguesia nem sempre muito liberal que nos cerca e, triste sina, nos governa. Os reprimidos−de−plantão incapazes de liberarem (hum...) o próprio prazer, sentem prazer cerceando o prazer alheio. Típico. Falta−lhes, por exemplo, entender o encanto carnal (erótico, pornográfico, picaresco, lúbrico, voluptuoso, lascivo) do conto Carta n° 2, incluído em Umidade (Companhia das Letras, 2005). Usando e (l)a(m)buzando a (ins)piração dionisíaca (quiçá, oswaldiana), Reinaldo Moraes desconstrói a carta de Pero Vaz de Caminha. Brincadeira a−pós−o−moderno, repleta de citações eruditas e malditas, até o Míquei Mauz ("de p’lúcia!") dá o ar da graça no meio (epa!) dos bacantes que largam seus bacamartes e descobrem o que é bacana. Corpos se contorcem em orgasmos e gritos histéricos de Quero mais! Com o livro na mão (!!!), o leitor rola pelo chão, a morrer de rir, a ressuscitar de prazer.
E, se ainda não disse, digo agora: Reinaldo Moraes é remédio certo contra úlcera, gastrite, mau humor, cara feia e burrice.
terça-feira, 7 de junho de 2011
CLUBE DE POESIA
− Alô?
−Anita? É o Joaquim. Estou ligando pra avisar que vou chegar mais tarde. Vamos, finalmente, fundar o nosso clube de poesia. Não é fantástico?
Anita não teve tempo de responder, o marido desligou antes. Com o fone na mão, a mulher teve um pressentimento: alguma coisa estranha estava acontecendo. Clube de poesia? E o que é que o Joaquim sabia de poesia? Tá certo que havia acumulado pela vida afora certa instrução cultural e, às vezes, recitava no meio da conversa um ou outro verso (normalmente bem colocado no contexto da discussão), mas... Daí a se transformar em poeta, ou pior, em intelectual, era preciso correr muita água por baixo da ponte. Clube de poesia? Hum... Que piada sem graça. Até porque ela conhecia, com intimidade, a "figura" com quem estava casada a mais de quinze anos. Provavelmente era apenas mais uma desculpa esfarrapada para aquele bando de bêbado, que ele chama de amigos, "tomar todas". É, devia ser isso mesmo.
Satisfeita com essa conclusão, Anita parou de pensar no assunto.
No entanto, o impossível estava acontecendo. Joaquim, toda terça−feira à noite, com meia dúzia de livros debaixo do braço, saía para a tal reunião.
Às vezes voltava para casa, completamente bêbado, falando sobre hemistíquios, alexandrinos e epopéias líricas. Uma vez declamou, aos berros, um poema em francês. Acordou a casa toda e uns dois ou três vizinhos. Foi preciso o filho mais velho levantar da cama e chamar a atenção do entusiasmado poeta. Com os olhos brilhando e balbuciando uma algaravia particular pediu perdão e foi dormir.
A rotina doméstica foi alterada. Joaquim se encastelou no escritório e proibiu a empregada de se aproximar enquanto ele estivesse "trabalhando".
E o trabalho era um poema épico sobre a conquista da América, os mitos indígenas e o horror criado pela civilização europeia. Esporadicamente, Anita o ouvia, ao telefone, pedindo informações sobre a civilização maia ou então discutindo a veracidade de algumas inscrições rupestres encontradas no interior da Bolívia. Em alguns momentos, o debate telefônico ficava tão acalorado que da conversa mansa inicial evoluía para gritos primitivos, recheados de palavrões e outras delicadezas.
Anita estava à beira do estresse quando o marido lhe comunicou que o Clube de Poesia estava organizando uma excursão para Minas Gerais. Seriam apenas alguns dias – duas semanas, para ser mais exato. Infelizmente as esposas não poderiam ir junto. Será que ela se importava? "É claro que não", disse aliviada. Férias conjugais (e poéticas) era tudo o que Anita queria da vida, naquele instante.
E assim foi. Joaquim, feliz como um adolescente, embarcou uns vinte dias depois. Prometeu fotografar o cemitério onde estavam enterrados alguns dos poetas inconfidentes, jurou que declamaria "Marília de Dirceu" nas ruas de São João Del Rey... Visitaria Ouro Preto, Sabará, Mariana... Compraria souvenires, cartões postais... Enfim, tinha certeza que aquela viagem seria inesquecível. O filho do meio sorriu amarelo, imaginando sabe−se lá o quê, talvez o internamento do pai. E abanou a mão para o ônibus que estava saindo.
Durante o tempo que ficou fora Joaquim telefonou todos os dias. Fazia questão de contar – com detalhes – os acontecimentos do dia. Encontrou a Nélida Piñon. Conversaram durante "horas". Ganhou, naturalmente, autógrafo para toda a família. O filho caçula aproveitou a "doçura enjoativa" do momento e avisou à plebe doméstica que estava de mudança para a casa do Pedrinho: "Ninguém vai conseguir aguentar o papai quando essa ‘bad trip’ terminar!"
"Palavras proféticas", diria Anita, quando reencontrou Joaquim. Depois de um longo e ardoroso beijo, ouviu o marido dizer: "J’ai la fureur d’aimer". Diante da cara de espanto da mulher, o marido foi esclarecendo:
− "Eu tenho a fúria de amar". É um verso fantástico do Verlaine. Você não conhecia?
Não, a esposa não conhecia. Nem queria conhecer. E já começava a ter raiva de quem tinha compartilhado aquela glória.
A coleção de fotos e vídeos se transformou em sinônimo de suplício. Eram tumbas, praças tediosas e estátuas caindo aos pedaços. Invariavelmente, a vítima−de−plantão, depois do décimo fotograma, olhava para o relógio e lembrava-se de um compromisso inadiável. Antes de ir embora, prometia voltar em outra hora, com mais tempo, para ver aquelas maravilhas. Joaquim sorria, extasiado.
E nesse ritmo a vida foi sendo conduzida por alguns meses. Uma tarde, Anita levantou o fone do gancho, queria telefonar para uma amiga, combinar alguma bobagem social. Ouviu a voz do marido na extensão. Pensou em desligar. Mesmo sabendo que estava errada, preferiu ouvir a conversa do marido.
Imediatamente ficou confusa: o "ilustre companheiro de toda uma vida" estava declamando um poema erótico. Um daqueles bem picantes, cheio de insinuações e promessas.
Uma voz desconhecida, melosa, interrompeu a manifestação lírico−amorosa:
− Que bonito, meu amor! Você é o maior! O maior poeta deste país!!!
Anita ficou boquiaberta: "Meu Deus, o que será que está acontecendo?" E sentou no sofá mais próximo. Antes, com uma tranquilidade desproporcional para aquele momento, colocou o fone sobre um móvel, evitando que Joaquim percebesse que ela tinha escutado a conversa.
Algumas horas mais tarde, depois de muito pensar, Anita reuniu os três filhos e colocou as cartas na mesa. Disse o que pensava sobre a traição. Depois, chamou o marido e, diante da prole, fez o relato. Joaquim negou. Negou tudo. E, ofendido, exigiu desculpas. Como não conseguiu convencer ninguém, enquanto arrumava a mala, ensaiou meia dúzia de lágrimas. Foi para um hotel.
Em menos de uma semana, estava morando com a amante.
Às vezes, por pura farra, mostra para os amigos as fotos da viagem a Minas. Na maior felicidade, explica:
− O responsável por essas imagens é o Silva, meu amigão! Em cada cidade mineira, ele fazia questão de fotografar os monumentos, as igrejas, as velharias. Enquanto isso, nós... Bem, nós ficávamos namorando no hotel! Foi uma viagem maravilhosa! Aliás, maravilhosa foi essa minha ideia de fundar um Clube de Poesia – o álibi (quase) perfeito!!!!!!!!
−Anita? É o Joaquim. Estou ligando pra avisar que vou chegar mais tarde. Vamos, finalmente, fundar o nosso clube de poesia. Não é fantástico?
Anita não teve tempo de responder, o marido desligou antes. Com o fone na mão, a mulher teve um pressentimento: alguma coisa estranha estava acontecendo. Clube de poesia? E o que é que o Joaquim sabia de poesia? Tá certo que havia acumulado pela vida afora certa instrução cultural e, às vezes, recitava no meio da conversa um ou outro verso (normalmente bem colocado no contexto da discussão), mas... Daí a se transformar em poeta, ou pior, em intelectual, era preciso correr muita água por baixo da ponte. Clube de poesia? Hum... Que piada sem graça. Até porque ela conhecia, com intimidade, a "figura" com quem estava casada a mais de quinze anos. Provavelmente era apenas mais uma desculpa esfarrapada para aquele bando de bêbado, que ele chama de amigos, "tomar todas". É, devia ser isso mesmo.
Satisfeita com essa conclusão, Anita parou de pensar no assunto.
No entanto, o impossível estava acontecendo. Joaquim, toda terça−feira à noite, com meia dúzia de livros debaixo do braço, saía para a tal reunião.
Às vezes voltava para casa, completamente bêbado, falando sobre hemistíquios, alexandrinos e epopéias líricas. Uma vez declamou, aos berros, um poema em francês. Acordou a casa toda e uns dois ou três vizinhos. Foi preciso o filho mais velho levantar da cama e chamar a atenção do entusiasmado poeta. Com os olhos brilhando e balbuciando uma algaravia particular pediu perdão e foi dormir.
A rotina doméstica foi alterada. Joaquim se encastelou no escritório e proibiu a empregada de se aproximar enquanto ele estivesse "trabalhando".
E o trabalho era um poema épico sobre a conquista da América, os mitos indígenas e o horror criado pela civilização europeia. Esporadicamente, Anita o ouvia, ao telefone, pedindo informações sobre a civilização maia ou então discutindo a veracidade de algumas inscrições rupestres encontradas no interior da Bolívia. Em alguns momentos, o debate telefônico ficava tão acalorado que da conversa mansa inicial evoluía para gritos primitivos, recheados de palavrões e outras delicadezas.
Anita estava à beira do estresse quando o marido lhe comunicou que o Clube de Poesia estava organizando uma excursão para Minas Gerais. Seriam apenas alguns dias – duas semanas, para ser mais exato. Infelizmente as esposas não poderiam ir junto. Será que ela se importava? "É claro que não", disse aliviada. Férias conjugais (e poéticas) era tudo o que Anita queria da vida, naquele instante.
E assim foi. Joaquim, feliz como um adolescente, embarcou uns vinte dias depois. Prometeu fotografar o cemitério onde estavam enterrados alguns dos poetas inconfidentes, jurou que declamaria "Marília de Dirceu" nas ruas de São João Del Rey... Visitaria Ouro Preto, Sabará, Mariana... Compraria souvenires, cartões postais... Enfim, tinha certeza que aquela viagem seria inesquecível. O filho do meio sorriu amarelo, imaginando sabe−se lá o quê, talvez o internamento do pai. E abanou a mão para o ônibus que estava saindo.
Durante o tempo que ficou fora Joaquim telefonou todos os dias. Fazia questão de contar – com detalhes – os acontecimentos do dia. Encontrou a Nélida Piñon. Conversaram durante "horas". Ganhou, naturalmente, autógrafo para toda a família. O filho caçula aproveitou a "doçura enjoativa" do momento e avisou à plebe doméstica que estava de mudança para a casa do Pedrinho: "Ninguém vai conseguir aguentar o papai quando essa ‘bad trip’ terminar!"
"Palavras proféticas", diria Anita, quando reencontrou Joaquim. Depois de um longo e ardoroso beijo, ouviu o marido dizer: "J’ai la fureur d’aimer". Diante da cara de espanto da mulher, o marido foi esclarecendo:
− "Eu tenho a fúria de amar". É um verso fantástico do Verlaine. Você não conhecia?
Não, a esposa não conhecia. Nem queria conhecer. E já começava a ter raiva de quem tinha compartilhado aquela glória.
A coleção de fotos e vídeos se transformou em sinônimo de suplício. Eram tumbas, praças tediosas e estátuas caindo aos pedaços. Invariavelmente, a vítima−de−plantão, depois do décimo fotograma, olhava para o relógio e lembrava-se de um compromisso inadiável. Antes de ir embora, prometia voltar em outra hora, com mais tempo, para ver aquelas maravilhas. Joaquim sorria, extasiado.
E nesse ritmo a vida foi sendo conduzida por alguns meses. Uma tarde, Anita levantou o fone do gancho, queria telefonar para uma amiga, combinar alguma bobagem social. Ouviu a voz do marido na extensão. Pensou em desligar. Mesmo sabendo que estava errada, preferiu ouvir a conversa do marido.
Imediatamente ficou confusa: o "ilustre companheiro de toda uma vida" estava declamando um poema erótico. Um daqueles bem picantes, cheio de insinuações e promessas.
Uma voz desconhecida, melosa, interrompeu a manifestação lírico−amorosa:
− Que bonito, meu amor! Você é o maior! O maior poeta deste país!!!
Anita ficou boquiaberta: "Meu Deus, o que será que está acontecendo?" E sentou no sofá mais próximo. Antes, com uma tranquilidade desproporcional para aquele momento, colocou o fone sobre um móvel, evitando que Joaquim percebesse que ela tinha escutado a conversa.
Algumas horas mais tarde, depois de muito pensar, Anita reuniu os três filhos e colocou as cartas na mesa. Disse o que pensava sobre a traição. Depois, chamou o marido e, diante da prole, fez o relato. Joaquim negou. Negou tudo. E, ofendido, exigiu desculpas. Como não conseguiu convencer ninguém, enquanto arrumava a mala, ensaiou meia dúzia de lágrimas. Foi para um hotel.
Em menos de uma semana, estava morando com a amante.
Às vezes, por pura farra, mostra para os amigos as fotos da viagem a Minas. Na maior felicidade, explica:
− O responsável por essas imagens é o Silva, meu amigão! Em cada cidade mineira, ele fazia questão de fotografar os monumentos, as igrejas, as velharias. Enquanto isso, nós... Bem, nós ficávamos namorando no hotel! Foi uma viagem maravilhosa! Aliás, maravilhosa foi essa minha ideia de fundar um Clube de Poesia – o álibi (quase) perfeito!!!!!!!!
segunda-feira, 6 de junho de 2011
SOMEWHERE, BY SOFIA COPPOLA
Gosto de Sofia Coppola. Provavelmente foi The virgin suicides (As virgens suicidas, 1999), a interessante (e quase literal) adaptação do romance de Jeffrey Eugenides, que estabeleceu as bases dessa devoção. Depois teve Lost in translation (Encontros e desencontros, 2003), que é um filme genial. Metade do mundo ficou boquiaberto com esse "tour de force". Bill Murray e Scarlett Johansson fazem um par inesquecível, perdidos nas ruas de uma Tóquio neurótica, sem identidade, anti−japonesa. Impossível não aplaudir. De pé. Quinze minutos. No mínimo.
Algum tempo depois, Sofia levou um choque de realidade: o triste retorno ao normal. O foco narrativo favorável à questão feminina, as discussões sobre a cena dos sapatos, a exuberância dos filmes de época: nada disso foi suficiente para dar a necessária substância à Maria Antonieta (2006), que é um filme beirando o artificial, o quase descartável. Falta algo. Ou pior, sobra algo. Alguns fãs perderam um pouco da fé.
Quando Somewhere (Um lugar qualquer, 2010) ganhou o Festival de Veneza, alguém (não lembro quem) me disse que o talento tinha voltado. Será?, perguntei um pouco descrente, um pouco esperançoso.
Na locadora, encontro uma cópia do filme. Em casa, taça com malbec ao alcance da mão, deixei Sofia me mostrar seu novo trabalho. Uma hora e meia depois, enquanto os créditos rolavam pela tela, um pouco de decepção. Queria mais − outra vez.
Histórias de desencontros entre pais e filhos sempre garantem a simpatia do espectador. Somente são superadas por aquelas protagonizadas por doentes ou animais. Quem possui senso crítico não pode aceitar esse tipo de armadilha.
A história do ator Johnny Marco (interpretado com competência por Stephen Dorf) em quase nada difere de outras histórias de sucesso profissional e fracasso emocional. A solidão é anestesiada por álcool e aventuras sexuais supérfluas (as gêmeas do pole dance mimetizam a beleza e o enfado desse estilo de vida).
A presença da filha, Cleo (interpretada por Elle Fanning), estabelece outro andamento ao filme, embora a ação narrativa continue lenta, tediosa – como comprova a quantidade angustiante de cenas com câmera fixa (ritualização de um cinema primitivo, onde gruas e recursos tecnológicos não atrapalhavam a cadência narrativa).
Da mesma forma com que Clio, a musa da História, empurra alguns acontecimentos para a lata de lixo, Cleo proporciona algum movimento ao que era estático. É a presença da filha, crivando o pai com olhares amorosos, que descarta a lentidão afetiva. É a ausência da filha que resulta na patética confissão de culpa paterna, quase ao final do filme: "I’m a fucking nothing".
Depois de admitir a mediocridade, a redenção. Essa é a regra do jogo narrativo. É a vitória dos ideais hollywoodianos, que imaginam "happy end" para todas as histórias. Sofia escolheu outra proposta: o anti−clímax do final aberto. Ou seja, menos envolvida com as preocupações de garantir o investimento e o lucro, a cineasta parece querer nos dizer algo além do expresso nas imagens. Talvez ambicione sugerir que caminhar para o interior do país, para o interior de si mesmo, seja uma das formas de expulsar a solidão.
O filme é bom, embora fique devendo. Além disso, não evita a sensação de "deja vù". A desterritorialização, a dificuldade em encontrar o bem−estar, está presente em todos os outros filmes de Sofia Coppola: as meninas de Virgens Suicidas, os americanos em Tóquio, a "austríaca" na corte francesa. E todos esses personagens infelizes expõem a fragilidade humana.
Algum tempo depois, Sofia levou um choque de realidade: o triste retorno ao normal. O foco narrativo favorável à questão feminina, as discussões sobre a cena dos sapatos, a exuberância dos filmes de época: nada disso foi suficiente para dar a necessária substância à Maria Antonieta (2006), que é um filme beirando o artificial, o quase descartável. Falta algo. Ou pior, sobra algo. Alguns fãs perderam um pouco da fé.
Quando Somewhere (Um lugar qualquer, 2010) ganhou o Festival de Veneza, alguém (não lembro quem) me disse que o talento tinha voltado. Será?, perguntei um pouco descrente, um pouco esperançoso.
Na locadora, encontro uma cópia do filme. Em casa, taça com malbec ao alcance da mão, deixei Sofia me mostrar seu novo trabalho. Uma hora e meia depois, enquanto os créditos rolavam pela tela, um pouco de decepção. Queria mais − outra vez.
Histórias de desencontros entre pais e filhos sempre garantem a simpatia do espectador. Somente são superadas por aquelas protagonizadas por doentes ou animais. Quem possui senso crítico não pode aceitar esse tipo de armadilha.
A história do ator Johnny Marco (interpretado com competência por Stephen Dorf) em quase nada difere de outras histórias de sucesso profissional e fracasso emocional. A solidão é anestesiada por álcool e aventuras sexuais supérfluas (as gêmeas do pole dance mimetizam a beleza e o enfado desse estilo de vida).
A presença da filha, Cleo (interpretada por Elle Fanning), estabelece outro andamento ao filme, embora a ação narrativa continue lenta, tediosa – como comprova a quantidade angustiante de cenas com câmera fixa (ritualização de um cinema primitivo, onde gruas e recursos tecnológicos não atrapalhavam a cadência narrativa).
Da mesma forma com que Clio, a musa da História, empurra alguns acontecimentos para a lata de lixo, Cleo proporciona algum movimento ao que era estático. É a presença da filha, crivando o pai com olhares amorosos, que descarta a lentidão afetiva. É a ausência da filha que resulta na patética confissão de culpa paterna, quase ao final do filme: "I’m a fucking nothing".
Depois de admitir a mediocridade, a redenção. Essa é a regra do jogo narrativo. É a vitória dos ideais hollywoodianos, que imaginam "happy end" para todas as histórias. Sofia escolheu outra proposta: o anti−clímax do final aberto. Ou seja, menos envolvida com as preocupações de garantir o investimento e o lucro, a cineasta parece querer nos dizer algo além do expresso nas imagens. Talvez ambicione sugerir que caminhar para o interior do país, para o interior de si mesmo, seja uma das formas de expulsar a solidão.
O filme é bom, embora fique devendo. Além disso, não evita a sensação de "deja vù". A desterritorialização, a dificuldade em encontrar o bem−estar, está presente em todos os outros filmes de Sofia Coppola: as meninas de Virgens Suicidas, os americanos em Tóquio, a "austríaca" na corte francesa. E todos esses personagens infelizes expõem a fragilidade humana.
Assinar:
Postagens (Atom)