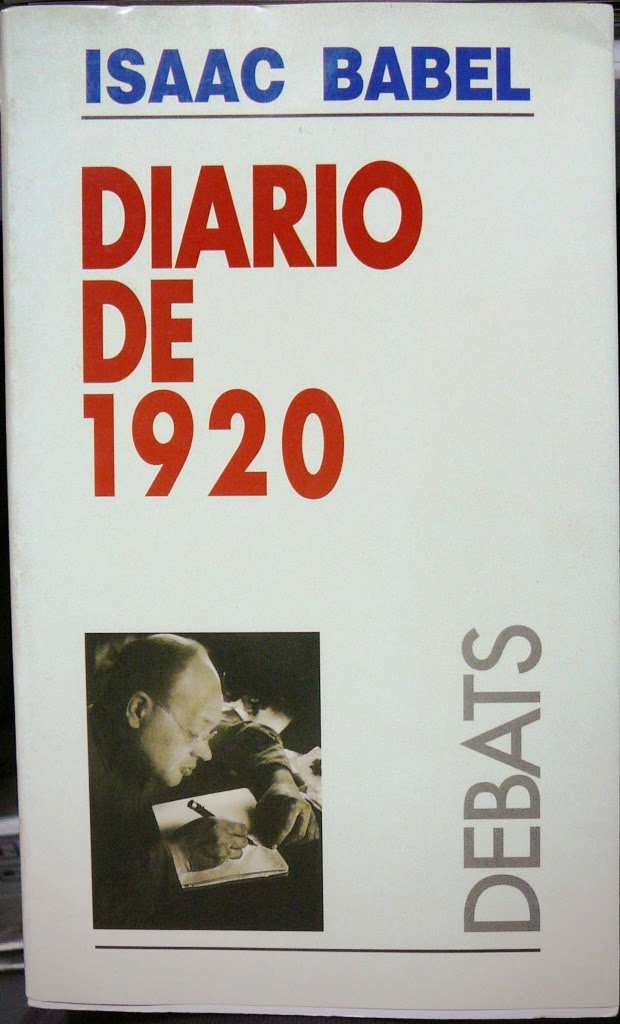A era de ouro da literatura russa terminou
a mais de 70 anos. No entanto, quase todos os escritores que brilharam naquele
período ainda continuam vivos (através das constantes reedições de seus
livros). Quem gosta de boas histórias não pode ignorar o talento de Aleksandr
Sergueievitch Púchkin (1799-1837), Mikhail Iurevitch Liermontov (1814-1841), Nikolai
Vassílievitch Gógol (1809-1852), Ivan Sergueievitch Turguêniev (1818-1883), Fiódor
Mikháilovitch Dostoiévski (1821-1881), Liev Nikoláievitch Tolstói (1828-1910),
Nikolai Semiónovitch Leskov (1831-1895), Vladímir Galaktiónovitch Korolienko
(1853-1921), Vsiévolod Mikhailovitch Gárchin (1855-1888), Anton Pávlovitch
Tchekhov (1860-1904), Fiódor Sologub (pseudônimo de Fiódor Kuzmitch
Tetiérnikov) (1863-1927), Maksim Gorki (pseudônimo de Alexei Maksimovitch
Pechkov) (1868-1936), Leonid Nikoláievitch Andreiev (1871-1919), Aleksandr
Ivánovitch Kuprin (1870-1938), Isaac Emmanuílovitch Babel (1894-1940), entre
outros.

Elif Batuman, estadunidense de origem
turca, esteve no Brasil, em 2014, na Festa Literária Internacional de Paraty
(FLIP). Passou quase despercebida. Compreensível. Ela não integra um daqueles
grupelhos que tocaram o talento pelo marketing. Um de seus livros, Os
Possessos – aventuras com os livros russos e seus leitores, foi publicado no
Brasil em 2012. Mas também não recebeu a atenção merecida. Em ritmo de
narrativa memorialista, onde descreve suas próprias aventuras, desventuras
amorosas e literárias – com riqueza de detalhes e bom humor –, esboça algumas
das dificuldades que acompanham aqueles que escolheram a literatura como percurso
profissional. Para adquirir as credenciais para preencher o cargo de professora
ou comprovar a correção de algumas ideias sobre textos e autores, ela teve que
superar muitas horas de pesquisa em bibliotecas e arquivos, inúmeras viagens, participação
em congressos, e, sobretudo, conviver com pessoas excêntricas – personagens que
parecem ter saído das páginas dos romances russos. É uma festa para aqueles que
gostam de naufragar na literatura eslava e bater recordes de apinéia.

Estudante de Literatura Comparada, Batuman
encontrou na literatura russa uma área de pesquisa repleta de surpresas e
prazer. Nos momentos em que escreve sobre seus escritores favoritos (Babel, Tolstói
e Tchekhov), o faz com a leveza de quem está conversando com o leitor. São
histórias engraçadas, repletas de analogias inesperadas. Em uma ocasião sonhou
com o piano de Jane Fairfax (personagem do romance Emma, de Jane Austen).
John Watson, o fiel escudeiro de Sherlock Homes, é mencionado várias vezes!
Além disso, em circunstâncias inusitadas, cita textos aparentemente
desconectados com a literatura russa, mas que, por vias transversas e
travessas, fazem parte de um mosaico de afinidades intelectuais, como Gramatologia, de Jacques Derrida, A Montanha Mágica, de Thomas Mann, Dom
Quixote, de Miguel de Cervantes, e Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll.

Além disso, não economiza detalhes sobre
questões menores, como a ailurofobia (detestar gatos) de Sofia (Sônia)
Andreievna, a viúva de Tolstói. Passeando por uma propriedade rural que
pertenceu a Tchekhov, anota, com sarcasmo, E a vida ainda continua no jardim
de Tchekhov, onde é sempre um bom dia para você se enforcar, e tem alguém em
algum lugar tocando violão. Seus comentários sobre Lepióchka, um pão típico
da cidade de Samarcanda, na República do Uzbequistão (um dos países que surgiram depois da implosão da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas), são
inacreditavelmente saborosos. Ao mencionar a campanha em favor do aumento da
natalidade no Uzbequistão contrapõe a ação governamental com um dos textos
satíricos mais famosos da história da literatura: Uma Modesta Proposta, de
Jonathan Swift.

Fluente nas línguas inglesa, turca e russa,
durante algum tempo Batuman imaginou como opção profissional aprender outros
idiomas. Por proximidade linguística, escolheu o tajique e o uzbeque. Suas
descrições da vida em Samarcanda e Tashkent, onde passou um verão tentando
aprender um pouco da língua e da poesia daqueles lugares, são, no mínimo,
surpreendentes. Também é inesperada (para o leitor) a descoberta de escritores menores como Mir Ali-Shir Navai (1441-1501), Zaxiddirin
Muhammad Bobur (1483-1530), Pahlavon Mahmud (1247-1322), G’afur G’ulom (1903-1966) e Abdulla Qahhor (1907-1968).
No plano dos livros mais conhecidos, o texto de Batuman está recheado de citações de Cavalaria
Vermelha (Babel), Oblomov (Ivan Gontcharov), Viagem a Arzrum e Evguiéni
Oniéguin (Púchkin), Anna Kariénina, A Sonata Kreutzer e Guerra e Paz (Tolstói), Os Demônios (Dostoiévski), Almas Mortas (Gogol). Ao descrever eventos
acadêmicos sobre as obras de Babel e Tolstói, recheia o texto com a descrição
de situações que exigem, na melhor das hipóteses, vários quilos de estoicismo.
Nessa caminhada, simultaneamente, há a recuperação
de textos completamente desconhecidos com a peça teatral O Cadáver Vivo (Tolstói), o romance A Casa de Vidro (Ivan Lajétchnikov) e o Diário de 1920 (Babel).
Mais do que um depoimento do mundo
subterrâneo em que habitam os professores de literatura, Os Possessos – aventuras com os livros russos e seus leitores, de
certa forma, é um ato de fé. Batuman, diante da constatação que Apesar de ser
verdade, como Tolstói observou, que cada família infeliz é infeliz à sua
maneira e que cada um no planeta Terra, um vale de lágrimas, é certamente
merecedor da especificidade de seu próprio sofrimento, mesmo assim gostamos de
pensar que a literatura tem o poder de tornar compreensíveis as diferentes
espécies de infelicidades. Se ela não é capaz disso, então serve para quê?,
encontra a resposta – simples e cristalina – afirmando, Se pudesse recomeçar
hoje, escolheria literatura de novo. Se existem respostas no mundo ou no
universo, eu ainda acho que é na literatura que vamos encontrá-las.

P.S.: Os Possessos – aventuras com os
livros russos e seus leitores merecia melhor sorte em relação à editoração. Alguns
dos problemas perceptíveis poderiam ser resolvidos com um pouco mais de cuidado
na tradução e na revisão. Por exemplo, na página 149, a frase (...) com a
garrafa de um scotch de malte único não parece ter a mínima coerência. Manter no original o scotch e traduzir
literalmente a expressão single malte indica, para dizer o básico,
ignorância (ou algum problema alcoólico). A expressão por cento está grafada porcento nas páginas 178 e
191 (duas vezes!). O mesmo acontece com de fazer que se transforma em defazer (p. 281) e com em um, que foi impresso como emum (p. 287). Aceitar
como correta a grafia de dispussesse (p. 213) não parece sensato.